O Reino de Genserico
Genserico foi rei dos vândalos e alanos entre 428 e 477. Durante os seus quase cinquenta anos de reinado elevou o seu reino à categoria de potência mediterrânea

Representação de Genserico saqueando Roma.
Antecedentes
Em outubro de 409 d.C., os vândalos cruzaram os Pirenéus penetrando na Península Ibérica. Lá eles receberam terras dos romanos, como foederati, na Galécia (a noroeste) os Hasdingos, e os Silingos na Bética (no sul), enquanto os Alanos receberam terras na Lusitânia (a oeste) e na região em torno de Nova Cartago.
Em 416, o rei Visigodo Valia prometeu ao Imperador Honório libertar Espanha dos demais bárbaros: derrotou os Silingos, cujo rei Fredbal foi capturado e levado para Itália, e os Alanos.
Os vândalos Hasdingos foram derrotados pelos suevos e romanos nos montes "nervasi" . Perseguidos pelos romanos, o rei Hasdingo Gunderico e o seu exército dirigem-se ao sul, obtendo o reforço dos restos da tribo dos Alanos, que foi dizimada em combate pelos Visigodos, dos quais os sobreviventes saudaram Gunderico como seu rei.
Atingindo as férteis planícies da Bética, Gunderico tornou-se rei dos Vândalos Silingos. Gunderico tornou-se "rei dos Vândalos e dos Alanos". Reunia sob seu comando Vândalos Hasdingos, Silingos e remanescentes dos Alanos, o que é evidenciado pelo título real, Rex Vandalorum et Alanorum.
Altos funcionários do Império Romano do Oriente, corrompidos, forneceram os segredos da construção naval a Genserico, o meio irmão de Gunderico, que construiu uma esquadra naval.

Representação de Vândalos e Alanos
desembarcando no Norte da África.
Em 429, o novo rei, Genserico, avaliou as possibilidades abertas pelo acesso ao mar. Liderando Vândalos e Alanos, Genserico cruzou o estreito de Gibraltar e se deslocou a leste até Cartago.
Ascensão ao trono
Filho ilegítimo do rei vândalo Godegisilo, supõe-se que Genserico nasceu nas imediações do lago Balaton (atual Hungria) por volta de 389.
Foi escolhido rei em 428, com a morte do seu meio irmão Gunderico. Brilhante e muito versado na arte militar, buscou o modo de aumentar o poder e a prosperidade do seu povo, que residia na época na Hispania Bética e que havia sofrido numerosos ataques dos visigodos. Em 429, Genserico decidiu ceder a Hispania aos seus rivais, conduzindo o seu povo para o norte da África, atraído pelas suas riquezas e pela fertilidade da região, empregando para isso a poderosa frota criada no reinado do seu predecessor.
A invasão da África
Bonifácio, governador da província da África Proconsular, rebelou-se contra o governo imperial, motivando o envio de tropas contra suas forças em Cartago. O quadro se mostrava amplamente favorável ao rei vândalo.
Aproveitando a disputa, 80.000 vândalos - 15.000 deles homens de armas - cruzaram o estreito de Gibraltar na primavera de 429, partindo de Tarifa e desembarcando em Ceuta.
Depois de várias vitórias sobre os defensores romanos, fixaram-se com controle de um território que compreendia o atual Marrocos e o norte de Argélia, pondo sob assédio a cidade de Hipona, que tomariam ao cabo de catorze meses de duros combates. No ano seguinte, o imperador Valentiniano III teve que reconhecer Genserico como soberano de todos estes territórios.
Em 435, Genserico chegou a um acordo com o Império Romano pelo qual o reino vândalo passou a ser foederatus de Roma com a concessão da Numídia. Os romanos conservaram apenas conservaram o controle de Cartago. Em 439 Genserico tomou a cidade de Cartago, capturando a frota imperial ali atracada. Com este movimento fez os vândalos donos do Mediterrâneo Ocidental, apoderando-se em seguida de bases marítimas de grande valor estratégico e comercial: as Ilhas Baleares, Córsega, Sicília e Sardenha. Roma, privada de uma das maiores zonas de produção cerealista do velho mundo, teve que comprar em seguida os grãos do norte da África para o sua própria provisão.
O Reino Vândalo

Reino Vândalo por volta de 455 d.C.
Genserico transformou o reino dos vândalos e alanos num estado poderoso (a capital era Saldae, atual Bejaia, no norte da Argélia). Os vândalos ocuparam a atual Tunísia e o Leste da Argélia; o resto, «a Africa esquecida», como lhe chama C. Courtois, o maciço de Aures, os planaltos do Oeste, a Mauritânia, escapam-lhes como tinham de fato escapado à autoridade de Roma. Genserico também conquistou a Sicília, a Sardenha, a Córsega e as Ilhas Baleares.
Os reis vândalos, embora tivessem maior confiança em seus companheiros de tribo, necessitavam da colaboração romana para viabilizar sua administração. Os germânicos haviam conquistado um território vasto e uma população considerável, vivendo há muito sob a lei romana. A organização administrativa imperial estava assentada em bases sólidas, forçando os invasores a mantê-la. Os magistrados romanos, com relevo o proconsul de Cartago, continuaram a desempenhar suas funções. O único setor privativo em mão dos Vândalos era o militar. Até o governo das ilhas, Sardenha, Córsega e Baleares era confiado a chefes guerreiros.
Os Vândalos adotaram no norte do continente africano procedimentos semelhantes aqueles dos Visigodos no sul da Gália. Também eles se tornaram grandes proprietários e habitaram entre os romanos, para quem, aliás, reservavam tarefas de natureza burocrática, solução encontrada para viabilizar o domínio de milhões de romanos e africanos por uma minoria de bárbaros, fiada no desempenho das armas, cuja posse era monopólio dos recém-chegados guerreiros germanos.

Batalha entre Berberes e Vândalos.
Os berberes no interior permaneciam insubmissos, tal como fora nos tempos de domínio militar romano. Seu exército teve que defender a fronteira contra ataques organizados por chefes berberes. Genserico se opôs a crescente pressão desses chefes.
O exército, integrado exclusivamente por Vândalos, garantia a ordem com sua poderosa cavalaria e sua esquadra, ainda que admitisse equipagens africanas, tinha seu comando oficiais bárbaros. Sua frota controlou a maior parte do Mediterrâneo Ocidental. As pilhagens em todo o Mediterrâneo alimentavam o tesouro real.
A minoria vândala não procurou fundir-se com os Romanos e Africanos, sobretudo por razões militares e religiosas. Genserico e seus sucessores quiseram preservar o valor guerreiro dos seus homens, e por isso impediram todos os casamentos mistos e toda a conversão ao catolicismo.
Perseguição Religiosa
No campo religioso os Vândalos não fazem concessões. E, progressivamente, o preconceito dos vitoriosos se traduziu em manifestações de violência e intolerância, decorrendo daí o martírio de numerosos católicos, bem como o exílio de muitos clérigos fiéis a Roma.
No campo confessional os Vândalos se identificavam com o arianismo, seguindo os preceitos da Bíblia de Ulfila, chocando-se com o expressivo contingente de católicos convictos. A monarquia vândala tinha na igreja ariana e no exército dois pilares de seu domínio. O arianismo tornou-se enraizado entre os germânicos, atingindo o ápice com a monarquia vândala no norte da África, que teve a oposição maciça da Igreja africana.
Cristão ariano, Genserico procedeu a numerosos confiscos de bens da Igreja Católica e submeteu os católicos a fortes perseguições.
Segundo Victor de Vita, historiador das perseguições, clérigos e leigos foram deportados para o Sul da Tunísia, enquanto os bispos eram exilados para a Córsega e a Sardenha ou obrigados a trabalhar nas minas. Numerosos católicos se refugiarão em Espanha, na Gália e em Itália, levando consigo importantes manuscritos, em especial os de Santo Agostinho.
Essa migração em massa para outros reinos, provocou falta de trabalhadores, e uma diminuição da produção. No final do reinado de Genserico, a opressão aliviou um pouco e foi permitido o regresso dos clérigos desterrados.
O saque de Roma
Em 455, o imperador romano Valentiniano III foi assassinado, sucedendo-o Petrônio Máximo. Genserico, considerando rompido o tratado de paz firmado com Valentiniano em 442, desembarcou na Península Itálica e marchou sobre Roma, cuja população rebelou-se contra o novo imperador e o matou três dias antes que, em 22 de abril de 455, os vândalos tomassem sem resistência a cidade.
..jpg)
Saque de Roma, por Heinrich Leutemann (1870).
Os vândalos saquearam a cidade por duas semanas. O saque não produziu uma destruição notável, se bem que os vândalos fizeram provisão de grande quantidade de ouro, prata e objetos de valor. Eles partiram com valores incontáveis, pilhagens do Templo em Jerusalém trazidas para Roma pelo imperador Tito Flávio.
Genserico levou consigo Licinia Eudoxia como refém a Cartago, viúva de Valentiniano, e as suas duas filhas, Placídia e Eudoxia, que contrairia depois matrimônio com seu filho e sucessor Hunerico.
A paz com o Império Bizantino

Representação da batalha naval de 468.
Em 468, o reino de Genserico teve que enfrentar ao último esforço militar conjunto das duas metades do Império Romano. O rei vândalo derrotou, frente ao cabo Bon, no nordeste da Tunísia uma poderosa frota armada romana de mais de mil naves, comandada pelo futuro imperador bizantino Basilisco.
As repetidas tentativas militares e diplomáticas para conter e derrubar o poder dos Vândalos revelaram-se infrutíferas. No verão de 474, Genserico assinou a paz perpétua com Constantinopla, pela qual o Bizâncio reconheceu a soberania vândala sobre as províncias norte-africanas, Baleares, Sicília, Córsega e Sardenha.
Morte

Efígie de Genserico.
Com a morte de Genserico em 477, seu filho Hunerico tornou-se rei. O reino Vândalo quando da morte de Genserico, principal arquiteto e planejador do seu poderio, parecia consolidado dominando com sua frota todo o Mediterrâneo Ocidental e suas ilhas. Seus sucessores radicalizaram as perseguições, fazendo da deportação maciça de clérigos um instrumento de afirmação de poder. Ainda que soberanos como Guntamundo (484-496) e Trasamundo (496-523) tenham incentivado atividades culturais, essa atitude não arrefeceu a dura condição dos católicos sob o domínio arianista.

Antecedentes
Em outubro de 409 d.C., os vândalos cruzaram os Pirenéus penetrando na Península Ibérica. Lá eles receberam terras dos romanos, como foederati, na Galécia (a noroeste) os Hasdingos, e os Silingos na Bética (no sul), enquanto os Alanos receberam terras na Lusitânia (a oeste) e na região em torno de Nova Cartago.
Em 416, o rei Visigodo Valia prometeu ao Imperador Honório libertar Espanha dos demais bárbaros: derrotou os Silingos, cujo rei Fredbal foi capturado e levado para Itália, e os Alanos.
Os vândalos Hasdingos foram derrotados pelos suevos e romanos nos montes "nervasi" . Perseguidos pelos romanos, o rei Hasdingo Gunderico e o seu exército dirigem-se ao sul, obtendo o reforço dos restos da tribo dos Alanos, que foi dizimada em combate pelos Visigodos, dos quais os sobreviventes saudaram Gunderico como seu rei.
Atingindo as férteis planícies da Bética, Gunderico tornou-se rei dos Vândalos Silingos. Gunderico tornou-se "rei dos Vândalos e dos Alanos". Reunia sob seu comando Vândalos Hasdingos, Silingos e remanescentes dos Alanos, o que é evidenciado pelo título real, Rex Vandalorum et Alanorum.
Altos funcionários do Império Romano do Oriente, corrompidos, forneceram os segredos da construção naval a Genserico, o meio irmão de Gunderico, que construiu uma esquadra naval.

Em 429, o novo rei, Genserico, avaliou as possibilidades abertas pelo acesso ao mar. Liderando Vândalos e Alanos, Genserico cruzou o estreito de Gibraltar e se deslocou a leste até Cartago.
Ascensão ao trono
Filho ilegítimo do rei vândalo Godegisilo, supõe-se que Genserico nasceu nas imediações do lago Balaton (atual Hungria) por volta de 389.
Foi escolhido rei em 428, com a morte do seu meio irmão Gunderico. Brilhante e muito versado na arte militar, buscou o modo de aumentar o poder e a prosperidade do seu povo, que residia na época na Hispania Bética e que havia sofrido numerosos ataques dos visigodos. Em 429, Genserico decidiu ceder a Hispania aos seus rivais, conduzindo o seu povo para o norte da África, atraído pelas suas riquezas e pela fertilidade da região, empregando para isso a poderosa frota criada no reinado do seu predecessor.
A invasão da África
Bonifácio, governador da província da África Proconsular, rebelou-se contra o governo imperial, motivando o envio de tropas contra suas forças em Cartago. O quadro se mostrava amplamente favorável ao rei vândalo.
Aproveitando a disputa, 80.000 vândalos - 15.000 deles homens de armas - cruzaram o estreito de Gibraltar na primavera de 429, partindo de Tarifa e desembarcando em Ceuta.
Depois de várias vitórias sobre os defensores romanos, fixaram-se com controle de um território que compreendia o atual Marrocos e o norte de Argélia, pondo sob assédio a cidade de Hipona, que tomariam ao cabo de catorze meses de duros combates. No ano seguinte, o imperador Valentiniano III teve que reconhecer Genserico como soberano de todos estes territórios.
Em 435, Genserico chegou a um acordo com o Império Romano pelo qual o reino vândalo passou a ser foederatus de Roma com a concessão da Numídia. Os romanos conservaram apenas conservaram o controle de Cartago. Em 439 Genserico tomou a cidade de Cartago, capturando a frota imperial ali atracada. Com este movimento fez os vândalos donos do Mediterrâneo Ocidental, apoderando-se em seguida de bases marítimas de grande valor estratégico e comercial: as Ilhas Baleares, Córsega, Sicília e Sardenha. Roma, privada de uma das maiores zonas de produção cerealista do velho mundo, teve que comprar em seguida os grãos do norte da África para o sua própria provisão.
O Reino Vândalo

Genserico transformou o reino dos vândalos e alanos num estado poderoso (a capital era Saldae, atual Bejaia, no norte da Argélia). Os vândalos ocuparam a atual Tunísia e o Leste da Argélia; o resto, «a Africa esquecida», como lhe chama C. Courtois, o maciço de Aures, os planaltos do Oeste, a Mauritânia, escapam-lhes como tinham de fato escapado à autoridade de Roma. Genserico também conquistou a Sicília, a Sardenha, a Córsega e as Ilhas Baleares.
Os reis vândalos, embora tivessem maior confiança em seus companheiros de tribo, necessitavam da colaboração romana para viabilizar sua administração. Os germânicos haviam conquistado um território vasto e uma população considerável, vivendo há muito sob a lei romana. A organização administrativa imperial estava assentada em bases sólidas, forçando os invasores a mantê-la. Os magistrados romanos, com relevo o proconsul de Cartago, continuaram a desempenhar suas funções. O único setor privativo em mão dos Vândalos era o militar. Até o governo das ilhas, Sardenha, Córsega e Baleares era confiado a chefes guerreiros.
Os Vândalos adotaram no norte do continente africano procedimentos semelhantes aqueles dos Visigodos no sul da Gália. Também eles se tornaram grandes proprietários e habitaram entre os romanos, para quem, aliás, reservavam tarefas de natureza burocrática, solução encontrada para viabilizar o domínio de milhões de romanos e africanos por uma minoria de bárbaros, fiada no desempenho das armas, cuja posse era monopólio dos recém-chegados guerreiros germanos.

Os berberes no interior permaneciam insubmissos, tal como fora nos tempos de domínio militar romano. Seu exército teve que defender a fronteira contra ataques organizados por chefes berberes. Genserico se opôs a crescente pressão desses chefes.
O exército, integrado exclusivamente por Vândalos, garantia a ordem com sua poderosa cavalaria e sua esquadra, ainda que admitisse equipagens africanas, tinha seu comando oficiais bárbaros. Sua frota controlou a maior parte do Mediterrâneo Ocidental. As pilhagens em todo o Mediterrâneo alimentavam o tesouro real.
A minoria vândala não procurou fundir-se com os Romanos e Africanos, sobretudo por razões militares e religiosas. Genserico e seus sucessores quiseram preservar o valor guerreiro dos seus homens, e por isso impediram todos os casamentos mistos e toda a conversão ao catolicismo.
Perseguição Religiosa
No campo religioso os Vândalos não fazem concessões. E, progressivamente, o preconceito dos vitoriosos se traduziu em manifestações de violência e intolerância, decorrendo daí o martírio de numerosos católicos, bem como o exílio de muitos clérigos fiéis a Roma.
No campo confessional os Vândalos se identificavam com o arianismo, seguindo os preceitos da Bíblia de Ulfila, chocando-se com o expressivo contingente de católicos convictos. A monarquia vândala tinha na igreja ariana e no exército dois pilares de seu domínio. O arianismo tornou-se enraizado entre os germânicos, atingindo o ápice com a monarquia vândala no norte da África, que teve a oposição maciça da Igreja africana.
Cristão ariano, Genserico procedeu a numerosos confiscos de bens da Igreja Católica e submeteu os católicos a fortes perseguições.
Segundo Victor de Vita, historiador das perseguições, clérigos e leigos foram deportados para o Sul da Tunísia, enquanto os bispos eram exilados para a Córsega e a Sardenha ou obrigados a trabalhar nas minas. Numerosos católicos se refugiarão em Espanha, na Gália e em Itália, levando consigo importantes manuscritos, em especial os de Santo Agostinho.
Essa migração em massa para outros reinos, provocou falta de trabalhadores, e uma diminuição da produção. No final do reinado de Genserico, a opressão aliviou um pouco e foi permitido o regresso dos clérigos desterrados.
O saque de Roma
Em 455, o imperador romano Valentiniano III foi assassinado, sucedendo-o Petrônio Máximo. Genserico, considerando rompido o tratado de paz firmado com Valentiniano em 442, desembarcou na Península Itálica e marchou sobre Roma, cuja população rebelou-se contra o novo imperador e o matou três dias antes que, em 22 de abril de 455, os vândalos tomassem sem resistência a cidade.
..jpg)
Os vândalos saquearam a cidade por duas semanas. O saque não produziu uma destruição notável, se bem que os vândalos fizeram provisão de grande quantidade de ouro, prata e objetos de valor. Eles partiram com valores incontáveis, pilhagens do Templo em Jerusalém trazidas para Roma pelo imperador Tito Flávio.
Genserico levou consigo Licinia Eudoxia como refém a Cartago, viúva de Valentiniano, e as suas duas filhas, Placídia e Eudoxia, que contrairia depois matrimônio com seu filho e sucessor Hunerico.
A paz com o Império Bizantino

Em 468, o reino de Genserico teve que enfrentar ao último esforço militar conjunto das duas metades do Império Romano. O rei vândalo derrotou, frente ao cabo Bon, no nordeste da Tunísia uma poderosa frota armada romana de mais de mil naves, comandada pelo futuro imperador bizantino Basilisco.
As repetidas tentativas militares e diplomáticas para conter e derrubar o poder dos Vândalos revelaram-se infrutíferas. No verão de 474, Genserico assinou a paz perpétua com Constantinopla, pela qual o Bizâncio reconheceu a soberania vândala sobre as províncias norte-africanas, Baleares, Sicília, Córsega e Sardenha.
Morte

Com a morte de Genserico em 477, seu filho Hunerico tornou-se rei. O reino Vândalo quando da morte de Genserico, principal arquiteto e planejador do seu poderio, parecia consolidado dominando com sua frota todo o Mediterrâneo Ocidental e suas ilhas. Seus sucessores radicalizaram as perseguições, fazendo da deportação maciça de clérigos um instrumento de afirmação de poder. Ainda que soberanos como Guntamundo (484-496) e Trasamundo (496-523) tenham incentivado atividades culturais, essa atitude não arrefeceu a dura condição dos católicos sob o domínio arianista.
OMINGO, 26 DE SETEMBRO DE 2010
A África Medieval
A história da África Medieval tem-se revelado rica e variada desde que os investigadores multiplicaram as fontes de investigação

O comércio e o surgimento das cidades
O desenvolvimento do comércio
A necessidade das cidades litorâneas de se abastecerem de matérias-primas, junto ao interesse das regiões do interior em adquirirem certos bens suntuários, fez com que surgisse entre elas importante intercâmbio comercial.
O comércio na África Ocidental
O ritmo dos contatos transaarianos incrementou-se no século VIII d.C. quando os mercadores muçulmanos vindos do litoral do norte da África começaram a penetrar nas regiões do Subsaara.
Do século XI ao XVI, as relações comerciais estabelecem-se entre o Sudão e o Norte de África. A estreita ligação da Península Ibérica com a África e através do Islão garantiu um fluxo de ouro quase ininterruptamente durante boa parte do período medieval. O ouro era principalmente extraído de jazidas situadas na África ocidental. Em torno de 1350, pelo menos dois terços da produção mundial de ouro vinham da África Ocidental. Ele era encaminhado através do Saara.
As rotas transaarianas
Para os mercadores muçulmanos, o deserto do Saara era como um oceano, com “portos comerciais” nos limites sul e norte, onde estabeleceram colônias e quartéis. Transportaavam objetos de valor, como lâmpadas de óleo, vidro, cerâmica fina, conchas de cauri e sal para os territórios da África negra ao sul do Saara. Em troca obtinham peles, escravos, produtos da selva e da savana, como marfim, ébano e ouro.
A escassez de água e os contínuos ataques às caravanas não impediram que os comerciantes muçulmanos desenvolvessem um intenso comércio.
O comércio na África Oriental
Os mercadores árabes começaram a comercializar e a estabelecer-se ao longo do litoral da África Oriental no século IX, criando prósperas cidades comerciais.
O comércio árabe exerceu um grande estímulo sobre o desenvolvimento econômico e social do interior. Como na África Ocidental, os primeiros assentamentos comerciais islâmicos foram logo seguidos pelo desenvolvimento de Estados centralizados nas regiões florestais de onde se obtinham valiosas matérias-primas, como ouro, marfim, chifres, couros e escravos. O comércio no interior da África Oriental ficou nas mãos de uma poderosa elite que controlava a exportação de matérias-primas para o litoral e utilizava as importações e os artigos de metal produzidos na região para mostrar seu prestígio e nível social.
Surgimento de cidades e estados
O comércio foi fator decisivo e o contato com os mercadores islâmicos foi fundamental para o aparecimento das cidades situadas ao longo das rotas das caravanas, no interior e na costa tanto ocidental como oriental.
Um estado pode emergir quando um grupo determinado, normalmente da aristocracia, resolve controlar algumas minas de ouro, o comércio do sal, marfim e as rotas comerciais. Esta aristocracia, rodeada de uma clientela numerosa, assegura o domínio sobre os outros grupos sociais, camponeses livres ou servos, artesãos, e às vezes comerciantes. Cada aldeia tinha que pagar tributo, símbolo da sua dependência.
Império de Gana
Na região entre os rios Senegal e Níger, os soninquês (povos de origem mandê), fundaram pequenas cidades, que desde o século 4 foram se unificando, muito provavelmente para resistir às guerras com povos nômades. Pouco se conhece sobre tal processo, mas, no século 8, a região já era conhecida como Império de Gana.
Os soninquês chamavam sua região de Wagadu, mas os berberes (povos do Magreb), que chegaram ali no século 8, a chamavam de Ghana, pois era esse o título do rei da região (ghana: "rei guerreiro").
Por muito tempo, o deserto do Saara dificultou o acesso dos povos do norte da África ao interior desse continente. Uma viagem do Magreb (região africana banhada pelo mar Mediterrâneo, exceto o Egito) até a bacia do rio Níger poderia durar até 4 meses em pleno deserto.
Dessa forma, enquanto o norte da África estava inserido no comércio entre diversos povos desde a Antiguidade (gregos, romanos, fenícios, cartagineses, líbios, persas, egípcios, árabes), o reino de Gana, na África Subsaariana (ou África Negra), pôde se desenvolver isoladamente. Somente quando os árabes conquistaram o Magreb e introduziram o camelo como animal de transporte foi possível a viagem através do deserto. A partir de então, os reinos e as grandes riquezas da África Negra passaram a fazer parte do comércio internacional do Mediterrâneo.
Gana já era um reino rico antes da chegada dos comerciantes do norte, e são os documentos deixados por esses comerciantes (árabes e berberes) que nos informam o que foi Gana, e relatam um império extraordinário, também chamado de Terra do Ouro. Segundo Al-Bakri, comerciante árabe de Córdoba (século 11), o rei de Gana usava túnicas bordadas a ouro, colares e pulseiras de ouro - e os arreios dos cavalos e as coleiras dos cachorros do rei eram de ouro.
O império de Gana tinha como capital Kumbi-Saleh. Dessa cidade, o rei e seus nobres controlavam povos vizinhos, obrigando-os a pagar impostos em troca de proteção. Além disso, Gana controlava o comércio tanto das mercadorias que eram trazidas do norte (como sal e tecidos), quanto das que saíam do interior da África (como ouro e escravos). Na capital, o comércio era intenso: os seus 20 mil habitantes recebiam diariamente as caravanas que vinham de diversas regiões. Entre os séculos 9 e 10, Gana viveu seu apogeu, sendo um dos mais ricos reinos do mundo, segundo Ibn Haukal, viajante árabe da época.
Os ataques almorávidas sobre o Gana provocam a derrocada deste Império em detrimento dos pequenos reinos que procuravam assegurar a hegemonia sobre a região.
Impérios Islâmicos
Entre 1000 e 1500, o islamismo se expandiu no sul da África e em alguns impérios como religião principal.
Com o processo de islamização dos povos africanos (os primeiros convertidos foram os berberes), o Império de Gana (que se recusava a se converter ao Islã) foi perdendo força, até que em 1076 os almorávidas (dinastia berbere) conquistaram e saquearam Kumbi-Saleh, transformando a cidade em um reino tributário. A partir daí, todo império se fragmentou, o que possibilitou as incursões de vários povos vizinhos, um deles os sossos, que passaram a controlar várias regiões do antigo império.
Segundo as tradições, Soumangourou, rei do Sosso, acolheu os animistas. Ele assegura a proeminência sobre o pequeno reino do Mali, no qual ele mata onze dos doze jovens príncipes, deixando somente o décimo segundo com vida, chamado Soundiata. Mas este último cumpriu proezas extraordinárias. Soundiata Keita (1230-1255), verdadeiro fundador do Império Mali, converteu-se ao Islão, revoltando-se contra Sosso e depois o Gana (1240), dominando outros pequenos reinos. Estas conquistas permitem-lhe aceder a terras auríferas que tinham feito a riqueza de Kaya Magan, o rei do Gana, de ter peso na rota transaariana, e, conseqüentemente, sobre a economia do mundo muçulmano.
Império de Mali
O Reino de Mali era, a princípio, uma região do Império de Gana habitada pelos mandingas. Era composto por 12 reinos menores ligados entre si, e tinha como capital Kangaba. Os mandingas chamavam seu território de Manden (= terra dos mandingas).
Após anos de guerras entre os soninquês de Gana e os almorávidas (século 11), e depois das guerras com os sossos (século 12), Mali conseguiu sua independência e adotou o islamismo. E, apesar de passar por um período de crise política e econômica, conseguiu se restabelecer e, em 1235, os mandingas de Mali conquistaram o território do antigo Império de Gana, sob a liderança de Soundiata Keita, que recebeu o título de Mansa, que na língua mandinga significa "imperador".
O nome que os mandingas davam ao seu império era Manden Kurufa; o nome Mali era usado por seus vizinhos, os fulas, para se referir ao grande império. Manden Kurufa significa Confederação de Manden. A capital era Niani (atualmente uma aldeia na República da Guiné).
Ao contrário do Império de Gana, que somente se preocupava em manter os povos dominados, a fim de controlar o comércio regional, o Império de Mali se impôs de forma centralista, estabelecendo fronteiras bem definidas e formulando leis por meio de uma assembléia chamada Gbara, composta por diversos povos do império. A aplicação da justiça era implacável, tanto que vários viajantes se referiam aos povos negros como "os que mais odeiam as injustiças - e seu imperador não perdoa ninguém que seja acusado de injusto". Acredita-se que o Império de Mali tivesse a extensão da Europa Ocidental.
Soundiata adicionou ao comércio do ouro e do sal o controle da navegação do Níger, que liga a zona de floresta aos arredores do deserto a este e a Gâmbia a oeste em direção ao oceano Atlântico.
O Império de Mali se tornou herdeiro do Império de Gana, pois passou a controlar todo o comércio local. O ouro extraído por Mali sustentava grande parte do comércio no Mediterrâneo.
Soundiata cria cinco clãs destinados a manter um rigor religioso, os clãs dos artesãos para o trabalho de ferro, do ouro, do marfim e do couro, e quatro clãs de feiticeiros para cantar as suas explorações e transmiti-las às gerações futuras. As crônicas muçulmanas mencionam que, entre 1324 e 1325, Mansa Mussa, em peregrinação a Meca, parou para uma visita ao Cairo e teria presenteado tantas pessoas com ouro, que o valor desse metal se desvalorizou por mais de 10 anos.
O soberano favorece a instalação de mercadores arabo-berberes, que controlavam o comércio através do Saara. As cidades sudanesas atraem os sábios marroquinos e egípcios.
Também sob o reinado de Mussa, a cidade de Timbuktu (ou Tombuctu) se tornou uma das mais ricas e importantes da região. Sua universidade era um dos maiores centros de cultura muçulmana da época, e produziu várias traduções de textos gregos que ainda circulavam nos séculos 14 e 15. A grandiosidade de Timbuktu atravessou os tempos e, no século 19, exploradores europeus se embrenharam pelos caminhos africanos, seguindo o rio Níger, em busca da lendária cidade.
O Império de Mali entrou em decadência a partir do final do século 14, em função das disputas políticas internas e das incursões dos tuaregues (povo berbere), que desestabilizam o comércio e enfraquecem o Império, reduzido ao alto Níger no século XV. No século 15, o império é conquistado pelos Songhais (povo africano até então dominado por Mali). Foi nesse mesmo século que os portugueses, em pleno processo de expansão marítima, conheceram o já decadente Mali.
Império Almorávida
Os almorávidas eram tribos berberes convertidas ao Islão provenientes do sul do Saara. Nas terras correspondentes aos atuais estados da Mauritânia e Mali, do rio Senegal até o rio Níger, após ter conseguido deter o avanço dos povos "negros" do sul, graças a alianças intertribais, a "confederação" foi forjada, com o fim de consolidar como capital a cidade de Audagost a sul de Mauritânia e de dispor uma ampla zona de pastoreio e controlar as principais rotas de caravanas que cruzavam a região de norte a sul.
A dinastia almorávida abraçou uma interpretação rigorista do Islão e unificou sob o seu domínio grandes extensões no ocidente do mundo muçulmano com as quais formaram um império, entre os séculos XI e XII, que chegou a se estender nomeadamente pelas atuais Mauritânia, Saara Ocidental, Marrocos e a metade sul da península Ibérica.
A missão dos almorávidas era impor a verdadeira fé pela força aos não-crentes. A partir de 1042, eles se lançaram em uma furiosa jihad a partir das regiões do Adrar e do Tagant, ambas hoje no coração do Saara Espanhol.
Os almorávidas unificaram a moeda, generalizando o dinar de ouro de 4,20 gr como moeda de referência, e criando moeda fracionária, que escasseava no Al-Andalus. Estimularam o comércio e reformaram a administração, outorgando amplos poderes às austeras autoridades religiosas, que promulgaram diversas fatwas, algumas das quais prejudicavam gravemente os judeus e, sobretudo, os moçárabes, que foram perseguidos neste período e pressionados para a sua conversão ao Islão. Sabe-se que a importante comunidade hebraica de Lucena teve de desembolsar importantes quantidades de dinheiro para evitar a sua conversão forçosa.
O poder almorávida, que uniu um só domínio importantes regiões da Europa e da África, com o decorrer dos anos tornou-se tão opressor como os antigos senhores do deserto ou dos emirados. Por volta de 1125 um novo poder estava surgindo no Magreb, o dos Almóadas, surgidos da tribo dos Zanatas, que conseguiram com um novo espírito de aplicação rigorosa da lei islâmica, já relaxados os costumes dos Almorávidas, impor-se ao poderio almorávida após a queda da sua capital Marraquexe em 1147.
Com a queda da capital Marraquexe às mãos dos almóadas em 1147, o Império almorávida cedeu o seu lugar ao novo poder rigorista, que imporá a sua hegemonia no Magreb e no Al-Andalus até a derrota das Navas de Tolosa em 1212.
Império de Kanem
Um dos mais duradouros impérios da história. Teve início na margem nordeste do lago Chade, na África, no decorrer do séc. VIII, e durou até fins do séc. XIX. No apogeu, o Império abrangia parte dos atuais Chade, Níger, Sudão, Líbia, Nigéria e República dos Camarões.
A prosperidade de Kanem dependia do comércio. Cobre, cavalos, artigos de metal e sal provenientes do norte da África, da Europa e da Ásia eram trocados nos mercados de Kanem por marfim e noz-de-cola vindos do sul. Os soberanos de Kanem mantinham um poderoso exército que policiava as rotas comerciais e recolhia um imposto dos negociantes.
Os soberanos trocaram as crenças tribais pelo Islamismo, a religião muçulmana, em 1086. Nessa mesma época começaram a expandir seu território. Depois que Bornu, situado na margem sudoeste do lago Chade, tornou-se uma província de Kanem, o Império passou a ser chamado de Kanem-Bornu. Em fins do séc. XIV, os bulalas conquistaram a parte de Kanem situada na margem nordeste do lago Chade e o imperador fugiu para Bornu. Mai Idris Alooma, que governou Kanem de 1580 a 1617, reconquistou o território perdido e estendeu as fronteiras do Império.
A história do império a partir do século XIV é relatada principalmente pela Crônica Real ou Girgam, descoberta em 1851 pelo viajante alemão Heinrich Barth.
Cidades-Estado
Cidades Hauças
A civilização hauça começou a ser construída por volta do século XI. Os hauçás estabeleceram uma série de fortes estados e que é agora do Norte e Centro da Nigéria e Leste do Níger. Intimamente ligados com o povo kanuri do Kanem-Bornu, a aristocracia hauçá adotou o Islão no século XI.
Habituados ao comércio, os hauças aceitavam conviver com outros povos. A tradição oral refere-se a uma cidade-mãe, Daúra, que teria dado origem às “sete cidades históricas”: Kano, Zaira, Gobir, Katsena, Rano, Biran e Daúra, teriam surgido no século XI.
No início era apenas uma simples cheferia. Com os anos, os hauças teriam ocupado parcelas da região, dando origem à expansão que levou às diversas cidades-estado independentes registradas pela história.
Esta radiação cultural atingiu os próprios reinos iorubas, muito influenciados pela civilização hauça. A organização social de hauça era profundamente urbanizada e particular, nela morava a nobreza, o letrados islamizados, os artesãos e alcançou grande importância econômica.
Em contato com o Sudão ocidental as pequenas cheferias hauças evoluíram até a situação de cidades-estado. Kano já praticava o escambo da cola guineense com o sal dos mercadores do deserto, foram os próprios mercadores e missionários mandingas que introduziram na hauçalândia o islamismo, se bem que ele ficasse restrito à aristocracia.
O Apogeu da civilização hauça ocorreu nos tempos do império Songai e, sobretudo, com sua decadência.
As relações entre o Sudão ocidental e a Central nem sempre foram pacíficas. As cidades-estado da Hauçalândia eram presas cobiçadas. O Áskia Mohammed, por exemplo, combateu diversas cidades-estado visando impor-lhe tributos. Os refinados produtos da civilização hauçá eram muito apreciados, somente a definitiva partilha da África entre as potências colônias pois a fim à atividade comercial.
Cidades Iorubas
A partir do século 9 formaram-se as cidades da civilização iorubá, na região da atual Nigéria: Oyo, Ifé, Ijexá, Ketu, Ijebu. A região já era habitada por esse povo desde o século 4.
Os iorubás nunca unificaram suas cidades, mas mantiveram a mesma cultura (língua, religião etc.). A cidade iorubá mais importante era Ifé, considerada sagrada, por ser o berço dos iorubás, segundo a crença local. Ifé foi uma cidade de intensos intercâmbios comerciais, um grande centro artesanal e artístico, e era governada por um rei sacerdote que tinha o título de Oni, enquanto nas outras cidades os governantes recebiam o título de Oba.
Outra cidade importante foi Oyo, um centro militar que, no final do século 17, tinha se expandido até Daomé (atual Benin). A cidade histórica de Oyo teria sido fundada nos inícios do século XIII. Até o século XV, Oyo foi apenas uma cidade-estado ioruba entre muitas outras. Chegou até mesmo ser dominada, por algum tempo pelos Nupes. Tornou-se um império por volta do século XV e cresceu para se tornar um dos maiores estados do Oeste africano encontradas pelos exploradores coloniais.
Apesar do cristianismo e do islamismo terem chegado até os iorubás, a maioria desse povo sempre se manteve fiel às antigas tradições politeístas locais, sendo os orixás os seus deuses.
Ao contrário do que se acredita, a crença nos orixás não se expandiu pela África, mantendo-se exclusivamente iorubá. Mas como muitos iorubás (chamados de nagôs ou anagôs pelos portugueses) foram transformados em escravos e trazidos à força para a América, o culto aos orixás se misturou ao cristianismo imposto por portugueses e espanhóis, criando vários sincretismos religiosos que fazem parte da cultura americana, como, por exemplo, o Candomblé e a Umbanda, no Brasil, e o Vodu no Haiti (apesar de o Vodu também receber influências de outras culturas africanas).
A partir do século 15, as cidades iorubás iniciaram seu processo de declínio (apesar de Oyo ter se mantido até o século 19). Muitos pesquisadores acreditam que a falta de unidade política foi uma das causas desse declínio, já que os iorubás não tiveram condições de se fortalecer para enfrentar o processo de escravização que lhes foi imposto.
Cidades Swahilis
No século IX, os Swahili fundaram cidades pela costa oeste da África. O período compreendido entre os séculos XII e XV da era cristã é particularmente interessante na história das ilhas e da costa oriental da África.
As cidades como Quíloa, Kilwa, Melinde e Mombaça eram principalmente centros comerciais para onde afluíam mercadorias e onde aportavam navios estrangeiros. A posição geográfica vantajosa - praticamente todo o litoral da África oriental faz parte da zona das monções - favorecia a navegação no oceano Indico e possibilitava a existência do comércio naquela parte do mundo. O comércio era extremamente lucrativo.
Foi a época em que se formou na região uma comunidade étnica cuja melhor denominação seria população "swahili". Foi também a época em que atestou-se plenamente a existência de alguns Estados, cujos primeiros registros datam do século X da era cristã. Outro fato importante é que, nesse período, o desenvolvimento histórico e cultural da África oriental não sofreu qualquer influência externa perturbadora, enquanto o surgimento de conquistadores portugueses no começo do século XVI interrompeu o processo de desenvolvimento, modificando sensivelmente suas condições e características. Como o período também se caracteriza por grande desenvolvimento cultural, é razoável considerarmos que a civilização swahili estava então em seu apogeu.
No século XII, os Swahili não constituíam uma comunidade homogênea no plano étnico ou social. No plano étnico, sobre um fundo formado por um população de língua bantu, acrescentavam-se elementos do interior do continente e do exterior, tais como árabes, persas e indianos, provenientes da costa setentrional do mar da Arábia e do oceano Indico.
No plano social, havia disparidades, na medida em que existia uma classe dirigente isolada e distinta da massa de homens livres. A estrutura formal da sociedade continuava fundamentada em clãs ou grupos étnicos, mas continha elementos de diferenciação por classes. Pois, embora considerados iguais aos outros, os membros da classe dirigente sobressaíam por serem ricos e porque suas funções tradicionais lhes conferiam influência especial. Ao lado da classe dirigente, encontravam-se outros indivíduos que eram ricos, mas não tinham acesso ao poder e à influência atribuída pela tradição, pois sua riqueza se originava do comércio. Gente comum formava a massa da população swahili. Além disso a sociedade swahili, no início do século XII, também incluía escravos, cuja existência é possível supor pela leitura dos autores árabes que descrevem sua exportação. Mas seu papel dentro da sociedade não é claro; pode ser que fossem exclusivamente objeto de um comércio inter-regional.
No fim do século XV, os escravos parecem ter tido função econômica, segundo o relato de um anônimo português que os descreve em atividades agrícolas em Kilwa. A civilização swahili reflete esse processo de diferenciação social; uma cultura tradicional, a do povo, distinguia-se de outra, a da classe dirigente. Mas, devido à falta de fontes, nossos conhecimentos sobre essa civilização são falhos.
Do Zimbábue ao Egito
Zimbábue
A sul de Zambeze, sobre o planalto delimitado por este rio e o Limpopo, viviam desde muito cedo populações de caçadores-recoletores.
Existem provas de que entre 500 e 1000 a região produzia ferro e marfim. Os investigadores põem a hipótese de se ter iniciado um comércio embrionário desde o século VII, comércio fundado sobre a exportação de marfim, eventualmente de ouro em pó, trocas por pérolas e tecidos originários do oceano Índico.
Em compensação, no século IX, a extração de ouro em pó para a exportação está comprovada. A exploração é bastante organizada nos séculos X e XI; é estreitamente controlada pelos chefes de Mapungubwe. Esta evolução permite a transformação dos espaços urbanos no Zimbábue e mais a sul.
O Reino de Mapungubwe foi o primeiro reino do sul da África, o qual conquistou poder através do controle do comércio entre a costa leste e o Oceano Índico. Existiu entre 1075 e 1220 no Vale do Rio Limpopo, próximo a confluência do rio Shashi. O reino cobria parte de Botswana, Zimbabwe e África do Sul.
A capital do reino era chamada de Mapungubwe. Este reino foi o precursor da civilização que formou o Império do Grande Zimbábue, no século 13.
Os artefatos encontrados no vale do rio Limpopo ilustram o florescimento do comércio e de sistemas avançados sociais no século XIII.
No século XV, um estado fortemente centralizado mostra o seu poderio pelas muralhas monumentais de pedra, que não tinham utilidade militar mas eram símbolos de prestígio. O Império do Grande Zimbábue perderia o seu prestígio no século XVI, sucedendo-lhe o Império "Monomotapa".
Etiópia
O reino de Axum, no Norte da Etiópia, havia-se convertido ao cristianismo no início do século IV, mantendo relações políticas com os últimos imperadores romanos.
Tinha a sua capital na cidade de Aksum, na atual Etiópia, embora as cidades mais prósperas fossem os portos do Mar Vermelho de Adulis e Matara, na atual Eritreia. Até ao século VI, Aksum, foi um entreposto geral do comércio de marfim, desempenhou papel importante no relacionamento com Bizâncio, apesar de algumas divergências religiosas.
Os axumitas controlavam uma das mais importantes rotas comerciais do mundo e ocupavam uma das mais férteis regiões no Mundo. Aksum encontrava-se diretamente no caminho das crescentes rotas comerciais entre a África, a Arábia e a Índia e, como resultado, tornou-se fabulosamente rica e as suas maiores cidades tornaram-se centros cosmopolitas, com populações de judeus, núbios, cristãos e até budistas.
O Império axumita entrou em declínio por volta do séc. X. Um novo império, governado pela dinastia Zagwe, surgiu cerca de 200 anos depois, a aproximadamente 240 km ao sul de Axum. A dinastia Zagwe governou até o século XIII.
Durante o séc. XIII, o rei Lalibela, o mais famoso governante da dinastia, mandou construir na rocha uma série de igrejas. Segundo as tradições, no regresso de seu exílio, tendo se consagrado rei, Lalibela fez com que sua "Nova Jerusalém" fosse construída abaixo do nível do solo por pura estratégia. Assim, quando os mercadores muçulmanos aparecessem pela região à procura de novos escravos, os cristãos etíopes e seus templos tinham maior chance de passar desapercebidos - só quem caísse literalmente na armadilha, e com sorte se recuperasse do tombo, poderia encontrar o caminho para o esconderijo.
Em 1270, Yekuno Amlak, um príncipe que se dizia descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá, derrubou a dinastia. O Império dividiu-se em pequenos reinos no séc. XVII, depois de uma série de guerras contra os invasores muçulmanos.
Núbia
No século VI da era cristã missionários cristãos entraram na Núbia e converteram três importantes reinos da região: Nobadia, ao norte, Macuria, no centro e Alodia no sul. Esses reinos cristãos negros coexistiram por vários séculos com seus vizinhos muçulmanos no Egito, constituíndo-se bastiões contra o avanço do islamismo.
Em 640, um exército árabe, comandado por Amru Ibn al-As, toma Alexandria, a capital egípcia. Num ano, os árabes chegaram a Assuão, na fronteira da Núbia. Depois de um período de incursões recíprocas, Amru enviou, em 641, uma grande expedição militar de conquista. Mas a operação não se ficou por um mero passeio, porque os archeiros núbios acertavam em cheio nos invasores. Depois de mais uma tentativa falhada, Saad Ibn Abi Sahr, que sucedera a Amru em 646, assinou, junto às muralhas da capital, Dôngola, um pacto (baqt) com o rei.
A Núbia e os árabes empenharam-se, desta forma, a respeitar as fronteiras e estabeleceram trocas comerciais oficiais: todos os anos, 360 escravos saudáveis teriam de ser enviados para o Egito, em troca de tecidos, cereais e outras mercadorias.
A Núbia Cristã perdeu as suas ligações com a sua base monofisita alexandrina. Instalava-se o fenômeno ”isolamento” numa altura em que o proselitismo islâmico tornava-se mais indiscreto e descarado sob a égide – agora - de um príncipe muçulmano.
Depois de 1315 o comércio e a penetração islâmica se consolidaram no Vale do Nilo numa relação de matéria e forma - meio e objetivo - foi uma nova frente de história que se abria na Núbia para dizer que o fim da dinastia cristã significou o fim do cristianismo como religião do estado monofisita núbio.
Nobadia, ao norte, tornara-se islâmica; Macuria, no centro, seguia o exemplo. Apenas Alodia (ou Alwa) mais para o sul manteve-se num estado de um cristianismo vegetativo, até o seu desaparecimento lento nos meados do século dezesseis derrubado, finalmente, por uma tribo árabe beduína que vai pelo nome de Fundj que podiam ser também os Shillukes dos Grandes Lagos, fundadores do Sennar, o estado sucessor da Núbia no século dezesseis.
Egito
No ano 640, o Egito foi conquistado pelos árabes. O período árabe caracterizou-se por lutas internas e constante troca de emires. A difusão do árabe e do islamismo transformou a invasão muçulmana na mais importante de todas as que o Egito sofreu. De sua história restou o copta, designação apenas religiosa. A princípio o Egito foi transformado em uma província do califado dos omíadas, de Damasco, que transferiram a capital para al-Fustat, construída nas imediações da fortaleza da Babilônia, erguida pelos romanos, no lugar hoje ocupado pela cidade velha do Cairo. Os omíadas conservaram o sistema administrativo egípcio e seus funcionários, mas o governo era exercido por um emir, auxiliado por um amil, ou diretor de finanças. O processo de islamização reacelerou com os abássidas, de Bagdá, cujo poder, no entanto, enfraqueceu ao longo do século IX.
Entre 868 e 1517, o Egito foi governado por cinco dinastias: os tulúnidas, os ikhchiditas, os fatimidas, os aiúbidas e os mamelucos.
A dinastia dos tulúnidas dominou de 868 a 905 e foi fundada pelo oficial turco Ahmad ibn Tulun, que proclamou a independência do país em relação a Bagdá. Os ikhchiditas governaram independentemente entre 939 e 968, depois de um breve retorno a Bagdá. Entretanto, um novo poder militar agressivo, oriundo da Tunísia, se apoderou do Egito, sob a família dos fatímidas, que se consideravam descendentes do califa Ali e de Fátima, filha de Maomé. Adeptos da doutrina xiita, governaram entre 969 e 1171. Uma nova capital foi fundada, al-Qahira (Cairo) em 988, e o Egito, organizado como califado, passou a usufruir de notável desenvolvimento econômico e cultural. Foi fundada a mesquita e a universidade de al-Azhar, em 970, e o tesouro dos califas passou a incluir a mais valiosa biblioteca do mundo muçulmano da época.
As disputas internas possibilitaram a intervenção do sultão de Damasco, Nur-al-Din, por intermédio do general Shirgu e de seu sobrinho Saladino (Sala al-Din Yusuf ibn Ayyub). Este, feito vizir em 1169, proclamou-se sultão do Egito logo após a morte do califa, dando início à dinastia dos aiúbidas, que reinaram de 1171 a 1250, e destacaram-se como grandes administradores. Reconstituíram um grande estado, da Tripolitânia à Mesopotâmia, dedicaram-se à agricultura de irrigação, ao comércio, às obras militares, à construção de escolas, hospitais e mesquitas. Lutaram contra os cruzados na Palestina, porém lutas internas minaram o poder. A crescente influência de oficiais mamelucos (conjunto de diferentes etnias, tais como turcos, mongóis, curdos etc.), tornou-se preponderante.
Uma milícia de mamelucos bahri, isto é, "do rio", tomou o poder em 1250 sob o comando de Izz al-Din Ayback. Os sultões mamelucos imperaram no Egito até 1517.

O comércio e o surgimento das cidades
O desenvolvimento do comércio
A necessidade das cidades litorâneas de se abastecerem de matérias-primas, junto ao interesse das regiões do interior em adquirirem certos bens suntuários, fez com que surgisse entre elas importante intercâmbio comercial.
O comércio na África Ocidental
O ritmo dos contatos transaarianos incrementou-se no século VIII d.C. quando os mercadores muçulmanos vindos do litoral do norte da África começaram a penetrar nas regiões do Subsaara.
Do século XI ao XVI, as relações comerciais estabelecem-se entre o Sudão e o Norte de África. A estreita ligação da Península Ibérica com a África e através do Islão garantiu um fluxo de ouro quase ininterruptamente durante boa parte do período medieval. O ouro era principalmente extraído de jazidas situadas na África ocidental. Em torno de 1350, pelo menos dois terços da produção mundial de ouro vinham da África Ocidental. Ele era encaminhado através do Saara.
As rotas transaarianas
Para os mercadores muçulmanos, o deserto do Saara era como um oceano, com “portos comerciais” nos limites sul e norte, onde estabeleceram colônias e quartéis. Transportaavam objetos de valor, como lâmpadas de óleo, vidro, cerâmica fina, conchas de cauri e sal para os territórios da África negra ao sul do Saara. Em troca obtinham peles, escravos, produtos da selva e da savana, como marfim, ébano e ouro.
A escassez de água e os contínuos ataques às caravanas não impediram que os comerciantes muçulmanos desenvolvessem um intenso comércio.
O comércio na África Oriental
Os mercadores árabes começaram a comercializar e a estabelecer-se ao longo do litoral da África Oriental no século IX, criando prósperas cidades comerciais.
O comércio árabe exerceu um grande estímulo sobre o desenvolvimento econômico e social do interior. Como na África Ocidental, os primeiros assentamentos comerciais islâmicos foram logo seguidos pelo desenvolvimento de Estados centralizados nas regiões florestais de onde se obtinham valiosas matérias-primas, como ouro, marfim, chifres, couros e escravos. O comércio no interior da África Oriental ficou nas mãos de uma poderosa elite que controlava a exportação de matérias-primas para o litoral e utilizava as importações e os artigos de metal produzidos na região para mostrar seu prestígio e nível social.
Surgimento de cidades e estados
O comércio foi fator decisivo e o contato com os mercadores islâmicos foi fundamental para o aparecimento das cidades situadas ao longo das rotas das caravanas, no interior e na costa tanto ocidental como oriental.
Um estado pode emergir quando um grupo determinado, normalmente da aristocracia, resolve controlar algumas minas de ouro, o comércio do sal, marfim e as rotas comerciais. Esta aristocracia, rodeada de uma clientela numerosa, assegura o domínio sobre os outros grupos sociais, camponeses livres ou servos, artesãos, e às vezes comerciantes. Cada aldeia tinha que pagar tributo, símbolo da sua dependência.
Império de Gana
Na região entre os rios Senegal e Níger, os soninquês (povos de origem mandê), fundaram pequenas cidades, que desde o século 4 foram se unificando, muito provavelmente para resistir às guerras com povos nômades. Pouco se conhece sobre tal processo, mas, no século 8, a região já era conhecida como Império de Gana.
Os soninquês chamavam sua região de Wagadu, mas os berberes (povos do Magreb), que chegaram ali no século 8, a chamavam de Ghana, pois era esse o título do rei da região (ghana: "rei guerreiro").
Por muito tempo, o deserto do Saara dificultou o acesso dos povos do norte da África ao interior desse continente. Uma viagem do Magreb (região africana banhada pelo mar Mediterrâneo, exceto o Egito) até a bacia do rio Níger poderia durar até 4 meses em pleno deserto.
Dessa forma, enquanto o norte da África estava inserido no comércio entre diversos povos desde a Antiguidade (gregos, romanos, fenícios, cartagineses, líbios, persas, egípcios, árabes), o reino de Gana, na África Subsaariana (ou África Negra), pôde se desenvolver isoladamente. Somente quando os árabes conquistaram o Magreb e introduziram o camelo como animal de transporte foi possível a viagem através do deserto. A partir de então, os reinos e as grandes riquezas da África Negra passaram a fazer parte do comércio internacional do Mediterrâneo.
Gana já era um reino rico antes da chegada dos comerciantes do norte, e são os documentos deixados por esses comerciantes (árabes e berberes) que nos informam o que foi Gana, e relatam um império extraordinário, também chamado de Terra do Ouro. Segundo Al-Bakri, comerciante árabe de Córdoba (século 11), o rei de Gana usava túnicas bordadas a ouro, colares e pulseiras de ouro - e os arreios dos cavalos e as coleiras dos cachorros do rei eram de ouro.
O império de Gana tinha como capital Kumbi-Saleh. Dessa cidade, o rei e seus nobres controlavam povos vizinhos, obrigando-os a pagar impostos em troca de proteção. Além disso, Gana controlava o comércio tanto das mercadorias que eram trazidas do norte (como sal e tecidos), quanto das que saíam do interior da África (como ouro e escravos). Na capital, o comércio era intenso: os seus 20 mil habitantes recebiam diariamente as caravanas que vinham de diversas regiões. Entre os séculos 9 e 10, Gana viveu seu apogeu, sendo um dos mais ricos reinos do mundo, segundo Ibn Haukal, viajante árabe da época.
Os ataques almorávidas sobre o Gana provocam a derrocada deste Império em detrimento dos pequenos reinos que procuravam assegurar a hegemonia sobre a região.
Impérios Islâmicos
Entre 1000 e 1500, o islamismo se expandiu no sul da África e em alguns impérios como religião principal.
Com o processo de islamização dos povos africanos (os primeiros convertidos foram os berberes), o Império de Gana (que se recusava a se converter ao Islã) foi perdendo força, até que em 1076 os almorávidas (dinastia berbere) conquistaram e saquearam Kumbi-Saleh, transformando a cidade em um reino tributário. A partir daí, todo império se fragmentou, o que possibilitou as incursões de vários povos vizinhos, um deles os sossos, que passaram a controlar várias regiões do antigo império.
Segundo as tradições, Soumangourou, rei do Sosso, acolheu os animistas. Ele assegura a proeminência sobre o pequeno reino do Mali, no qual ele mata onze dos doze jovens príncipes, deixando somente o décimo segundo com vida, chamado Soundiata. Mas este último cumpriu proezas extraordinárias. Soundiata Keita (1230-1255), verdadeiro fundador do Império Mali, converteu-se ao Islão, revoltando-se contra Sosso e depois o Gana (1240), dominando outros pequenos reinos. Estas conquistas permitem-lhe aceder a terras auríferas que tinham feito a riqueza de Kaya Magan, o rei do Gana, de ter peso na rota transaariana, e, conseqüentemente, sobre a economia do mundo muçulmano.
Império de Mali
O Reino de Mali era, a princípio, uma região do Império de Gana habitada pelos mandingas. Era composto por 12 reinos menores ligados entre si, e tinha como capital Kangaba. Os mandingas chamavam seu território de Manden (= terra dos mandingas).
Após anos de guerras entre os soninquês de Gana e os almorávidas (século 11), e depois das guerras com os sossos (século 12), Mali conseguiu sua independência e adotou o islamismo. E, apesar de passar por um período de crise política e econômica, conseguiu se restabelecer e, em 1235, os mandingas de Mali conquistaram o território do antigo Império de Gana, sob a liderança de Soundiata Keita, que recebeu o título de Mansa, que na língua mandinga significa "imperador".
O nome que os mandingas davam ao seu império era Manden Kurufa; o nome Mali era usado por seus vizinhos, os fulas, para se referir ao grande império. Manden Kurufa significa Confederação de Manden. A capital era Niani (atualmente uma aldeia na República da Guiné).
Ao contrário do Império de Gana, que somente se preocupava em manter os povos dominados, a fim de controlar o comércio regional, o Império de Mali se impôs de forma centralista, estabelecendo fronteiras bem definidas e formulando leis por meio de uma assembléia chamada Gbara, composta por diversos povos do império. A aplicação da justiça era implacável, tanto que vários viajantes se referiam aos povos negros como "os que mais odeiam as injustiças - e seu imperador não perdoa ninguém que seja acusado de injusto". Acredita-se que o Império de Mali tivesse a extensão da Europa Ocidental.
Soundiata adicionou ao comércio do ouro e do sal o controle da navegação do Níger, que liga a zona de floresta aos arredores do deserto a este e a Gâmbia a oeste em direção ao oceano Atlântico.
O Império de Mali se tornou herdeiro do Império de Gana, pois passou a controlar todo o comércio local. O ouro extraído por Mali sustentava grande parte do comércio no Mediterrâneo.
Soundiata cria cinco clãs destinados a manter um rigor religioso, os clãs dos artesãos para o trabalho de ferro, do ouro, do marfim e do couro, e quatro clãs de feiticeiros para cantar as suas explorações e transmiti-las às gerações futuras. As crônicas muçulmanas mencionam que, entre 1324 e 1325, Mansa Mussa, em peregrinação a Meca, parou para uma visita ao Cairo e teria presenteado tantas pessoas com ouro, que o valor desse metal se desvalorizou por mais de 10 anos.
O soberano favorece a instalação de mercadores arabo-berberes, que controlavam o comércio através do Saara. As cidades sudanesas atraem os sábios marroquinos e egípcios.
Também sob o reinado de Mussa, a cidade de Timbuktu (ou Tombuctu) se tornou uma das mais ricas e importantes da região. Sua universidade era um dos maiores centros de cultura muçulmana da época, e produziu várias traduções de textos gregos que ainda circulavam nos séculos 14 e 15. A grandiosidade de Timbuktu atravessou os tempos e, no século 19, exploradores europeus se embrenharam pelos caminhos africanos, seguindo o rio Níger, em busca da lendária cidade.
O Império de Mali entrou em decadência a partir do final do século 14, em função das disputas políticas internas e das incursões dos tuaregues (povo berbere), que desestabilizam o comércio e enfraquecem o Império, reduzido ao alto Níger no século XV. No século 15, o império é conquistado pelos Songhais (povo africano até então dominado por Mali). Foi nesse mesmo século que os portugueses, em pleno processo de expansão marítima, conheceram o já decadente Mali.
Império Almorávida
Os almorávidas eram tribos berberes convertidas ao Islão provenientes do sul do Saara. Nas terras correspondentes aos atuais estados da Mauritânia e Mali, do rio Senegal até o rio Níger, após ter conseguido deter o avanço dos povos "negros" do sul, graças a alianças intertribais, a "confederação" foi forjada, com o fim de consolidar como capital a cidade de Audagost a sul de Mauritânia e de dispor uma ampla zona de pastoreio e controlar as principais rotas de caravanas que cruzavam a região de norte a sul.
A dinastia almorávida abraçou uma interpretação rigorista do Islão e unificou sob o seu domínio grandes extensões no ocidente do mundo muçulmano com as quais formaram um império, entre os séculos XI e XII, que chegou a se estender nomeadamente pelas atuais Mauritânia, Saara Ocidental, Marrocos e a metade sul da península Ibérica.
A missão dos almorávidas era impor a verdadeira fé pela força aos não-crentes. A partir de 1042, eles se lançaram em uma furiosa jihad a partir das regiões do Adrar e do Tagant, ambas hoje no coração do Saara Espanhol.
Os almorávidas unificaram a moeda, generalizando o dinar de ouro de 4,20 gr como moeda de referência, e criando moeda fracionária, que escasseava no Al-Andalus. Estimularam o comércio e reformaram a administração, outorgando amplos poderes às austeras autoridades religiosas, que promulgaram diversas fatwas, algumas das quais prejudicavam gravemente os judeus e, sobretudo, os moçárabes, que foram perseguidos neste período e pressionados para a sua conversão ao Islão. Sabe-se que a importante comunidade hebraica de Lucena teve de desembolsar importantes quantidades de dinheiro para evitar a sua conversão forçosa.
O poder almorávida, que uniu um só domínio importantes regiões da Europa e da África, com o decorrer dos anos tornou-se tão opressor como os antigos senhores do deserto ou dos emirados. Por volta de 1125 um novo poder estava surgindo no Magreb, o dos Almóadas, surgidos da tribo dos Zanatas, que conseguiram com um novo espírito de aplicação rigorosa da lei islâmica, já relaxados os costumes dos Almorávidas, impor-se ao poderio almorávida após a queda da sua capital Marraquexe em 1147.
Com a queda da capital Marraquexe às mãos dos almóadas em 1147, o Império almorávida cedeu o seu lugar ao novo poder rigorista, que imporá a sua hegemonia no Magreb e no Al-Andalus até a derrota das Navas de Tolosa em 1212.
Império de Kanem
Um dos mais duradouros impérios da história. Teve início na margem nordeste do lago Chade, na África, no decorrer do séc. VIII, e durou até fins do séc. XIX. No apogeu, o Império abrangia parte dos atuais Chade, Níger, Sudão, Líbia, Nigéria e República dos Camarões.
A prosperidade de Kanem dependia do comércio. Cobre, cavalos, artigos de metal e sal provenientes do norte da África, da Europa e da Ásia eram trocados nos mercados de Kanem por marfim e noz-de-cola vindos do sul. Os soberanos de Kanem mantinham um poderoso exército que policiava as rotas comerciais e recolhia um imposto dos negociantes.
Os soberanos trocaram as crenças tribais pelo Islamismo, a religião muçulmana, em 1086. Nessa mesma época começaram a expandir seu território. Depois que Bornu, situado na margem sudoeste do lago Chade, tornou-se uma província de Kanem, o Império passou a ser chamado de Kanem-Bornu. Em fins do séc. XIV, os bulalas conquistaram a parte de Kanem situada na margem nordeste do lago Chade e o imperador fugiu para Bornu. Mai Idris Alooma, que governou Kanem de 1580 a 1617, reconquistou o território perdido e estendeu as fronteiras do Império.
A história do império a partir do século XIV é relatada principalmente pela Crônica Real ou Girgam, descoberta em 1851 pelo viajante alemão Heinrich Barth.
Cidades-Estado
Cidades Hauças
A civilização hauça começou a ser construída por volta do século XI. Os hauçás estabeleceram uma série de fortes estados e que é agora do Norte e Centro da Nigéria e Leste do Níger. Intimamente ligados com o povo kanuri do Kanem-Bornu, a aristocracia hauçá adotou o Islão no século XI.
Habituados ao comércio, os hauças aceitavam conviver com outros povos. A tradição oral refere-se a uma cidade-mãe, Daúra, que teria dado origem às “sete cidades históricas”: Kano, Zaira, Gobir, Katsena, Rano, Biran e Daúra, teriam surgido no século XI.
No início era apenas uma simples cheferia. Com os anos, os hauças teriam ocupado parcelas da região, dando origem à expansão que levou às diversas cidades-estado independentes registradas pela história.
Esta radiação cultural atingiu os próprios reinos iorubas, muito influenciados pela civilização hauça. A organização social de hauça era profundamente urbanizada e particular, nela morava a nobreza, o letrados islamizados, os artesãos e alcançou grande importância econômica.
Em contato com o Sudão ocidental as pequenas cheferias hauças evoluíram até a situação de cidades-estado. Kano já praticava o escambo da cola guineense com o sal dos mercadores do deserto, foram os próprios mercadores e missionários mandingas que introduziram na hauçalândia o islamismo, se bem que ele ficasse restrito à aristocracia.
O Apogeu da civilização hauça ocorreu nos tempos do império Songai e, sobretudo, com sua decadência.
As relações entre o Sudão ocidental e a Central nem sempre foram pacíficas. As cidades-estado da Hauçalândia eram presas cobiçadas. O Áskia Mohammed, por exemplo, combateu diversas cidades-estado visando impor-lhe tributos. Os refinados produtos da civilização hauçá eram muito apreciados, somente a definitiva partilha da África entre as potências colônias pois a fim à atividade comercial.
Cidades Iorubas
A partir do século 9 formaram-se as cidades da civilização iorubá, na região da atual Nigéria: Oyo, Ifé, Ijexá, Ketu, Ijebu. A região já era habitada por esse povo desde o século 4.
Os iorubás nunca unificaram suas cidades, mas mantiveram a mesma cultura (língua, religião etc.). A cidade iorubá mais importante era Ifé, considerada sagrada, por ser o berço dos iorubás, segundo a crença local. Ifé foi uma cidade de intensos intercâmbios comerciais, um grande centro artesanal e artístico, e era governada por um rei sacerdote que tinha o título de Oni, enquanto nas outras cidades os governantes recebiam o título de Oba.
Outra cidade importante foi Oyo, um centro militar que, no final do século 17, tinha se expandido até Daomé (atual Benin). A cidade histórica de Oyo teria sido fundada nos inícios do século XIII. Até o século XV, Oyo foi apenas uma cidade-estado ioruba entre muitas outras. Chegou até mesmo ser dominada, por algum tempo pelos Nupes. Tornou-se um império por volta do século XV e cresceu para se tornar um dos maiores estados do Oeste africano encontradas pelos exploradores coloniais.
Apesar do cristianismo e do islamismo terem chegado até os iorubás, a maioria desse povo sempre se manteve fiel às antigas tradições politeístas locais, sendo os orixás os seus deuses.
Ao contrário do que se acredita, a crença nos orixás não se expandiu pela África, mantendo-se exclusivamente iorubá. Mas como muitos iorubás (chamados de nagôs ou anagôs pelos portugueses) foram transformados em escravos e trazidos à força para a América, o culto aos orixás se misturou ao cristianismo imposto por portugueses e espanhóis, criando vários sincretismos religiosos que fazem parte da cultura americana, como, por exemplo, o Candomblé e a Umbanda, no Brasil, e o Vodu no Haiti (apesar de o Vodu também receber influências de outras culturas africanas).
A partir do século 15, as cidades iorubás iniciaram seu processo de declínio (apesar de Oyo ter se mantido até o século 19). Muitos pesquisadores acreditam que a falta de unidade política foi uma das causas desse declínio, já que os iorubás não tiveram condições de se fortalecer para enfrentar o processo de escravização que lhes foi imposto.
Cidades Swahilis
No século IX, os Swahili fundaram cidades pela costa oeste da África. O período compreendido entre os séculos XII e XV da era cristã é particularmente interessante na história das ilhas e da costa oriental da África.
As cidades como Quíloa, Kilwa, Melinde e Mombaça eram principalmente centros comerciais para onde afluíam mercadorias e onde aportavam navios estrangeiros. A posição geográfica vantajosa - praticamente todo o litoral da África oriental faz parte da zona das monções - favorecia a navegação no oceano Indico e possibilitava a existência do comércio naquela parte do mundo. O comércio era extremamente lucrativo.
Foi a época em que se formou na região uma comunidade étnica cuja melhor denominação seria população "swahili". Foi também a época em que atestou-se plenamente a existência de alguns Estados, cujos primeiros registros datam do século X da era cristã. Outro fato importante é que, nesse período, o desenvolvimento histórico e cultural da África oriental não sofreu qualquer influência externa perturbadora, enquanto o surgimento de conquistadores portugueses no começo do século XVI interrompeu o processo de desenvolvimento, modificando sensivelmente suas condições e características. Como o período também se caracteriza por grande desenvolvimento cultural, é razoável considerarmos que a civilização swahili estava então em seu apogeu.
No século XII, os Swahili não constituíam uma comunidade homogênea no plano étnico ou social. No plano étnico, sobre um fundo formado por um população de língua bantu, acrescentavam-se elementos do interior do continente e do exterior, tais como árabes, persas e indianos, provenientes da costa setentrional do mar da Arábia e do oceano Indico.
No plano social, havia disparidades, na medida em que existia uma classe dirigente isolada e distinta da massa de homens livres. A estrutura formal da sociedade continuava fundamentada em clãs ou grupos étnicos, mas continha elementos de diferenciação por classes. Pois, embora considerados iguais aos outros, os membros da classe dirigente sobressaíam por serem ricos e porque suas funções tradicionais lhes conferiam influência especial. Ao lado da classe dirigente, encontravam-se outros indivíduos que eram ricos, mas não tinham acesso ao poder e à influência atribuída pela tradição, pois sua riqueza se originava do comércio. Gente comum formava a massa da população swahili. Além disso a sociedade swahili, no início do século XII, também incluía escravos, cuja existência é possível supor pela leitura dos autores árabes que descrevem sua exportação. Mas seu papel dentro da sociedade não é claro; pode ser que fossem exclusivamente objeto de um comércio inter-regional.
No fim do século XV, os escravos parecem ter tido função econômica, segundo o relato de um anônimo português que os descreve em atividades agrícolas em Kilwa. A civilização swahili reflete esse processo de diferenciação social; uma cultura tradicional, a do povo, distinguia-se de outra, a da classe dirigente. Mas, devido à falta de fontes, nossos conhecimentos sobre essa civilização são falhos.
Do Zimbábue ao Egito
Zimbábue
A sul de Zambeze, sobre o planalto delimitado por este rio e o Limpopo, viviam desde muito cedo populações de caçadores-recoletores.
Existem provas de que entre 500 e 1000 a região produzia ferro e marfim. Os investigadores põem a hipótese de se ter iniciado um comércio embrionário desde o século VII, comércio fundado sobre a exportação de marfim, eventualmente de ouro em pó, trocas por pérolas e tecidos originários do oceano Índico.
Em compensação, no século IX, a extração de ouro em pó para a exportação está comprovada. A exploração é bastante organizada nos séculos X e XI; é estreitamente controlada pelos chefes de Mapungubwe. Esta evolução permite a transformação dos espaços urbanos no Zimbábue e mais a sul.
O Reino de Mapungubwe foi o primeiro reino do sul da África, o qual conquistou poder através do controle do comércio entre a costa leste e o Oceano Índico. Existiu entre 1075 e 1220 no Vale do Rio Limpopo, próximo a confluência do rio Shashi. O reino cobria parte de Botswana, Zimbabwe e África do Sul.
A capital do reino era chamada de Mapungubwe. Este reino foi o precursor da civilização que formou o Império do Grande Zimbábue, no século 13.
Os artefatos encontrados no vale do rio Limpopo ilustram o florescimento do comércio e de sistemas avançados sociais no século XIII.
No século XV, um estado fortemente centralizado mostra o seu poderio pelas muralhas monumentais de pedra, que não tinham utilidade militar mas eram símbolos de prestígio. O Império do Grande Zimbábue perderia o seu prestígio no século XVI, sucedendo-lhe o Império "Monomotapa".
Etiópia
O reino de Axum, no Norte da Etiópia, havia-se convertido ao cristianismo no início do século IV, mantendo relações políticas com os últimos imperadores romanos.
Tinha a sua capital na cidade de Aksum, na atual Etiópia, embora as cidades mais prósperas fossem os portos do Mar Vermelho de Adulis e Matara, na atual Eritreia. Até ao século VI, Aksum, foi um entreposto geral do comércio de marfim, desempenhou papel importante no relacionamento com Bizâncio, apesar de algumas divergências religiosas.
Os axumitas controlavam uma das mais importantes rotas comerciais do mundo e ocupavam uma das mais férteis regiões no Mundo. Aksum encontrava-se diretamente no caminho das crescentes rotas comerciais entre a África, a Arábia e a Índia e, como resultado, tornou-se fabulosamente rica e as suas maiores cidades tornaram-se centros cosmopolitas, com populações de judeus, núbios, cristãos e até budistas.
O Império axumita entrou em declínio por volta do séc. X. Um novo império, governado pela dinastia Zagwe, surgiu cerca de 200 anos depois, a aproximadamente 240 km ao sul de Axum. A dinastia Zagwe governou até o século XIII.
Durante o séc. XIII, o rei Lalibela, o mais famoso governante da dinastia, mandou construir na rocha uma série de igrejas. Segundo as tradições, no regresso de seu exílio, tendo se consagrado rei, Lalibela fez com que sua "Nova Jerusalém" fosse construída abaixo do nível do solo por pura estratégia. Assim, quando os mercadores muçulmanos aparecessem pela região à procura de novos escravos, os cristãos etíopes e seus templos tinham maior chance de passar desapercebidos - só quem caísse literalmente na armadilha, e com sorte se recuperasse do tombo, poderia encontrar o caminho para o esconderijo.
Em 1270, Yekuno Amlak, um príncipe que se dizia descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá, derrubou a dinastia. O Império dividiu-se em pequenos reinos no séc. XVII, depois de uma série de guerras contra os invasores muçulmanos.
Núbia
No século VI da era cristã missionários cristãos entraram na Núbia e converteram três importantes reinos da região: Nobadia, ao norte, Macuria, no centro e Alodia no sul. Esses reinos cristãos negros coexistiram por vários séculos com seus vizinhos muçulmanos no Egito, constituíndo-se bastiões contra o avanço do islamismo.
Em 640, um exército árabe, comandado por Amru Ibn al-As, toma Alexandria, a capital egípcia. Num ano, os árabes chegaram a Assuão, na fronteira da Núbia. Depois de um período de incursões recíprocas, Amru enviou, em 641, uma grande expedição militar de conquista. Mas a operação não se ficou por um mero passeio, porque os archeiros núbios acertavam em cheio nos invasores. Depois de mais uma tentativa falhada, Saad Ibn Abi Sahr, que sucedera a Amru em 646, assinou, junto às muralhas da capital, Dôngola, um pacto (baqt) com o rei.
A Núbia e os árabes empenharam-se, desta forma, a respeitar as fronteiras e estabeleceram trocas comerciais oficiais: todos os anos, 360 escravos saudáveis teriam de ser enviados para o Egito, em troca de tecidos, cereais e outras mercadorias.
A Núbia Cristã perdeu as suas ligações com a sua base monofisita alexandrina. Instalava-se o fenômeno ”isolamento” numa altura em que o proselitismo islâmico tornava-se mais indiscreto e descarado sob a égide – agora - de um príncipe muçulmano.
Depois de 1315 o comércio e a penetração islâmica se consolidaram no Vale do Nilo numa relação de matéria e forma - meio e objetivo - foi uma nova frente de história que se abria na Núbia para dizer que o fim da dinastia cristã significou o fim do cristianismo como religião do estado monofisita núbio.
Nobadia, ao norte, tornara-se islâmica; Macuria, no centro, seguia o exemplo. Apenas Alodia (ou Alwa) mais para o sul manteve-se num estado de um cristianismo vegetativo, até o seu desaparecimento lento nos meados do século dezesseis derrubado, finalmente, por uma tribo árabe beduína que vai pelo nome de Fundj que podiam ser também os Shillukes dos Grandes Lagos, fundadores do Sennar, o estado sucessor da Núbia no século dezesseis.
Egito
No ano 640, o Egito foi conquistado pelos árabes. O período árabe caracterizou-se por lutas internas e constante troca de emires. A difusão do árabe e do islamismo transformou a invasão muçulmana na mais importante de todas as que o Egito sofreu. De sua história restou o copta, designação apenas religiosa. A princípio o Egito foi transformado em uma província do califado dos omíadas, de Damasco, que transferiram a capital para al-Fustat, construída nas imediações da fortaleza da Babilônia, erguida pelos romanos, no lugar hoje ocupado pela cidade velha do Cairo. Os omíadas conservaram o sistema administrativo egípcio e seus funcionários, mas o governo era exercido por um emir, auxiliado por um amil, ou diretor de finanças. O processo de islamização reacelerou com os abássidas, de Bagdá, cujo poder, no entanto, enfraqueceu ao longo do século IX.
Entre 868 e 1517, o Egito foi governado por cinco dinastias: os tulúnidas, os ikhchiditas, os fatimidas, os aiúbidas e os mamelucos.
A dinastia dos tulúnidas dominou de 868 a 905 e foi fundada pelo oficial turco Ahmad ibn Tulun, que proclamou a independência do país em relação a Bagdá. Os ikhchiditas governaram independentemente entre 939 e 968, depois de um breve retorno a Bagdá. Entretanto, um novo poder militar agressivo, oriundo da Tunísia, se apoderou do Egito, sob a família dos fatímidas, que se consideravam descendentes do califa Ali e de Fátima, filha de Maomé. Adeptos da doutrina xiita, governaram entre 969 e 1171. Uma nova capital foi fundada, al-Qahira (Cairo) em 988, e o Egito, organizado como califado, passou a usufruir de notável desenvolvimento econômico e cultural. Foi fundada a mesquita e a universidade de al-Azhar, em 970, e o tesouro dos califas passou a incluir a mais valiosa biblioteca do mundo muçulmano da época.
As disputas internas possibilitaram a intervenção do sultão de Damasco, Nur-al-Din, por intermédio do general Shirgu e de seu sobrinho Saladino (Sala al-Din Yusuf ibn Ayyub). Este, feito vizir em 1169, proclamou-se sultão do Egito logo após a morte do califa, dando início à dinastia dos aiúbidas, que reinaram de 1171 a 1250, e destacaram-se como grandes administradores. Reconstituíram um grande estado, da Tripolitânia à Mesopotâmia, dedicaram-se à agricultura de irrigação, ao comércio, às obras militares, à construção de escolas, hospitais e mesquitas. Lutaram contra os cruzados na Palestina, porém lutas internas minaram o poder. A crescente influência de oficiais mamelucos (conjunto de diferentes etnias, tais como turcos, mongóis, curdos etc.), tornou-se preponderante.
Uma milícia de mamelucos bahri, isto é, "do rio", tomou o poder em 1250 sob o comando de Izz al-Din Ayback. Os sultões mamelucos imperaram no Egito até 1517.
Idas e vindas
Ex-escravos queriam voltar à África para combater o tráfico. Enquanto isso, famílias de Cabinda educavam seus filhos no Rio para o comércio negreiro

Casal de Cabinda, século XIX.
“O melhor lugar para os libertos africanos e seus descendentes livres, residentes no Império do Brasil, irem e fundarem uma cidade é o lugar chamado Cabinda, no Sudoeste da África, porque os nativos daquele lugar tiveram, ao longo dos anos, o desejo de adquirir civilização européia”.
O trecho acima não é obra de algum governante branco europeu planejando o destino dos negros alforriados. Trata-se de uma carta escrita em 1851 por um ex-escravo e endereçada às autoridades britânicas. Joaquim Nicolau de Brito pleiteava, para si e para uma centena de outros libertos, a oportunidade de viajar de volta à África e lá empreender uma nova colonização, inspirada em formas “civilizadas” de governo.
O grupo queria instalar-se em Cabinda, no litoral da atual Angola, e dedicar-se ao cultivo de produtos agrícolas para consumo e exportação. Com os lucros do trabalho, seus integrantes pagariam o investimento feito em sua viagem.
Para convencer os ingleses a patrociná-los, usaram argumentos afinados com a política antiescravista promovida pela Grã-Bretanha. Prometiam combater o tráfico negreiro na região, por meio do exemplo bem-sucedido do trabalho livre, e propunham até a libertação de escravos – que seriam comprados dos traficantes e teriam dois anos para pagar com seu trabalho o preço do resgate. O grupo liderado por Joaquim Nicolau de Brito deixava bem claro que esse pagamento de dívida não caracterizaria trabalho escravo.
Era este o grande compromisso que assumiam na petição: não se envolverem no comércio negreiro, nem utilizarem trabalho escravo, nem permitirem que seus descendentes o fizessem. Tomaram o cuidado de “jurar sobre a Bíblia” que jamais haviam sido proprietários de escravos no Brasil. Declaravam-se cristãos, e, por isso, conscientes de que o direito de propriedade era exclusivo sobre coisas, não se estendendo às pessoas.
A idéia era reunir o maior número de “pessoas de cor civilizadas” para auxiliar a população local a se organizar. O termo “civilização” é usado diversas vezes no texto. Com ele, os migrantes vindos do Brasil se afastavam dos chamados selvagens do interior da África – a quem, apesar dessa ressalva, tratam de “irmãos”.
Toda essa argumentação surtiu efeito: Lord Palmerston, ministro de Negócios Estrangeiros da Inglaterra, autorizou o apoio ao grupo e ordenou que seus funcionários tomassem as providências necessárias. O problema é que, pouco depois do despacho favorável, ele perdeu seu cargo e, por algum tempo, seu poder. Não há menção a um embarque com essas características nos documentos dos portos nem nos jornais da época.
A carta de Joaquim Nicolau é o único registro conhecido em que os próprios alforriados explicam suas razões para retornar à terra natal. Muitos historiadores afirmam que a maioria dos escravos, depois que obtinha a liberdade, sequer desejava voltar. Ou, se o fazia, normalmente era no fim da vida, para passar seus últimos dias na África. O documento mostra que havia outras motivações para o retorno. Os argumentos de Joaquim Nicolau se parecem muito com o discurso de outros retornados voluntários, libertos africanos e seus descendentes, que partiram do Caribe e dos Estados Unidos rumo à África.
Relatos de viajantes do século XIX descrevem a existência de comunidades de “retornados” libertos na África Ocidental. Mais tarde, estes grupos se tornariam os agudás no Benim, amarôs em Togo e na Nigéria, tá-bom em Gana. Povos que ainda hoje se identificam como descendentes de brasileiros. No litoral de Angola, estreitas conexões motivadas pelo tráfico de escravos aproximaram aquela região do Rio de Janeiro. Há registros de comunidades em Cabinda formadas por libertos vindos do Brasil e do Caribe.
Outras transações também ocorriam entre os portos dos dois lados do Atlântico Sul. Em 1784, um poderoso chefe de Cabinda, o Manfuca Franque Kokelo, entregou seu filho de oito anos a um capitão de navio negreiro para que ele fosse educado no Rio de Janeiro. Quinze anos depois, o jovem Francisco Franque voltava para casa levando na bagagem contatos pessoais e comerciais com a capital do Brasil. Quando a família real se transferiu para cá, em 1808, muito provavelmente Francisco Franque retornou ao Rio de Janeiro com uma delegação que veio firmar acordos de intensificação do tráfico de escravos. O filho do chefe cabinda tornava-se um importante fornecedor de cativos da costa africana.
A prática de enviar os filhos para serem educados no Rio de Janeiro – e para aprenderem os meandros do mercado negreiro – era comum entre as famílias tradicionais dessa região. Mas nem sempre as coisas saíam como o planejado. Em 1810, o príncipe Puna delegou a criação de dois de seus filhos a um capitão. Mas o oficial os transformou em escravos domésticos, e eles precisaram ser resgatados pelo traficante Francisco Franque.
Décadas mais tarde, o traficante Manoel Pinto da Fonseca receberia a mesma incumbência em relação a outro jovem de uma influente linhagem de Cabinda. No entanto, como deixou de receber recursos para essa missão, simplesmente abandonou seu educando. O jovem foi acolhido por um escravo liberto, e aqui surge uma coincidência admirável: este ex-escravo fazia parte do grupo liderado por Joaquim Nicolau, o mesmo que pedia auxílio aos ingleses para migrar. A presença do jovem entre eles poderia ser uma garantia de boa recepção na chegada, dada a importância de sua família em Cabinda.
Considerando o ramo de negócios em que as famílias mais poderosas de Cabinda estavam envolvidas, pode-se questionar se aqueles libertos conseguiriam pôr em prática seu discurso antiescravista. De qualquer forma, o caso é exemplar para destacar a intensidade e as contradições das conexões Angola-Brasil daquela época.

“O melhor lugar para os libertos africanos e seus descendentes livres, residentes no Império do Brasil, irem e fundarem uma cidade é o lugar chamado Cabinda, no Sudoeste da África, porque os nativos daquele lugar tiveram, ao longo dos anos, o desejo de adquirir civilização européia”.
O trecho acima não é obra de algum governante branco europeu planejando o destino dos negros alforriados. Trata-se de uma carta escrita em 1851 por um ex-escravo e endereçada às autoridades britânicas. Joaquim Nicolau de Brito pleiteava, para si e para uma centena de outros libertos, a oportunidade de viajar de volta à África e lá empreender uma nova colonização, inspirada em formas “civilizadas” de governo.
O grupo queria instalar-se em Cabinda, no litoral da atual Angola, e dedicar-se ao cultivo de produtos agrícolas para consumo e exportação. Com os lucros do trabalho, seus integrantes pagariam o investimento feito em sua viagem.
Para convencer os ingleses a patrociná-los, usaram argumentos afinados com a política antiescravista promovida pela Grã-Bretanha. Prometiam combater o tráfico negreiro na região, por meio do exemplo bem-sucedido do trabalho livre, e propunham até a libertação de escravos – que seriam comprados dos traficantes e teriam dois anos para pagar com seu trabalho o preço do resgate. O grupo liderado por Joaquim Nicolau de Brito deixava bem claro que esse pagamento de dívida não caracterizaria trabalho escravo.
Era este o grande compromisso que assumiam na petição: não se envolverem no comércio negreiro, nem utilizarem trabalho escravo, nem permitirem que seus descendentes o fizessem. Tomaram o cuidado de “jurar sobre a Bíblia” que jamais haviam sido proprietários de escravos no Brasil. Declaravam-se cristãos, e, por isso, conscientes de que o direito de propriedade era exclusivo sobre coisas, não se estendendo às pessoas.
A idéia era reunir o maior número de “pessoas de cor civilizadas” para auxiliar a população local a se organizar. O termo “civilização” é usado diversas vezes no texto. Com ele, os migrantes vindos do Brasil se afastavam dos chamados selvagens do interior da África – a quem, apesar dessa ressalva, tratam de “irmãos”.
Toda essa argumentação surtiu efeito: Lord Palmerston, ministro de Negócios Estrangeiros da Inglaterra, autorizou o apoio ao grupo e ordenou que seus funcionários tomassem as providências necessárias. O problema é que, pouco depois do despacho favorável, ele perdeu seu cargo e, por algum tempo, seu poder. Não há menção a um embarque com essas características nos documentos dos portos nem nos jornais da época.
A carta de Joaquim Nicolau é o único registro conhecido em que os próprios alforriados explicam suas razões para retornar à terra natal. Muitos historiadores afirmam que a maioria dos escravos, depois que obtinha a liberdade, sequer desejava voltar. Ou, se o fazia, normalmente era no fim da vida, para passar seus últimos dias na África. O documento mostra que havia outras motivações para o retorno. Os argumentos de Joaquim Nicolau se parecem muito com o discurso de outros retornados voluntários, libertos africanos e seus descendentes, que partiram do Caribe e dos Estados Unidos rumo à África.
Relatos de viajantes do século XIX descrevem a existência de comunidades de “retornados” libertos na África Ocidental. Mais tarde, estes grupos se tornariam os agudás no Benim, amarôs em Togo e na Nigéria, tá-bom em Gana. Povos que ainda hoje se identificam como descendentes de brasileiros. No litoral de Angola, estreitas conexões motivadas pelo tráfico de escravos aproximaram aquela região do Rio de Janeiro. Há registros de comunidades em Cabinda formadas por libertos vindos do Brasil e do Caribe.
Outras transações também ocorriam entre os portos dos dois lados do Atlântico Sul. Em 1784, um poderoso chefe de Cabinda, o Manfuca Franque Kokelo, entregou seu filho de oito anos a um capitão de navio negreiro para que ele fosse educado no Rio de Janeiro. Quinze anos depois, o jovem Francisco Franque voltava para casa levando na bagagem contatos pessoais e comerciais com a capital do Brasil. Quando a família real se transferiu para cá, em 1808, muito provavelmente Francisco Franque retornou ao Rio de Janeiro com uma delegação que veio firmar acordos de intensificação do tráfico de escravos. O filho do chefe cabinda tornava-se um importante fornecedor de cativos da costa africana.
A prática de enviar os filhos para serem educados no Rio de Janeiro – e para aprenderem os meandros do mercado negreiro – era comum entre as famílias tradicionais dessa região. Mas nem sempre as coisas saíam como o planejado. Em 1810, o príncipe Puna delegou a criação de dois de seus filhos a um capitão. Mas o oficial os transformou em escravos domésticos, e eles precisaram ser resgatados pelo traficante Francisco Franque.
Décadas mais tarde, o traficante Manoel Pinto da Fonseca receberia a mesma incumbência em relação a outro jovem de uma influente linhagem de Cabinda. No entanto, como deixou de receber recursos para essa missão, simplesmente abandonou seu educando. O jovem foi acolhido por um escravo liberto, e aqui surge uma coincidência admirável: este ex-escravo fazia parte do grupo liderado por Joaquim Nicolau, o mesmo que pedia auxílio aos ingleses para migrar. A presença do jovem entre eles poderia ser uma garantia de boa recepção na chegada, dada a importância de sua família em Cabinda.
Considerando o ramo de negócios em que as famílias mais poderosas de Cabinda estavam envolvidas, pode-se questionar se aqueles libertos conseguiriam pôr em prática seu discurso antiescravista. De qualquer forma, o caso é exemplar para destacar a intensidade e as contradições das conexões Angola-Brasil daquela época.
A Núbia cristã - O Evangelho pelos caminhos do Nilo
O eunuco de Candace, rainha de Meroé, indica-nos o caminho: desde os primeiros testemunhos de fé no reino dos faraós, chegamos às vicissitudes históricas de um cristianismo nascente e «abençoado» pelo imperador e que se reforça aliando-se aos árabes.
No ano 36 da nossa era – apenas cinco anos após o Pentecostes –, o cristianismo já havia penetrado no coração da África, na pessoa do eunuco de Candace, rainha de Meroé (Sudão). A notícia que lemos no Actos dos Apóstolos (8.26-39) é muito sóbria, mas apresenta elementos que nos permitem reconstruir com razoabilidade o cenário histórico da conversão do primeiro negro ao cristianismo.
Etiópia – palavra grega que significa «rosto negro» – era o nome que, genericamente, se dava a toda a África a sul do Egipto. Candace era o título da rainha de Meroé. No século VIII antes de Cristo, surgira, ao longo do rio Nilo a sul do Egipto – portanto na África negra – um império cujos imperadores, entre 750 e 650, ocuparam o trono dos faraós. Empurrados ou retirando-se para o Egipto, transferiram a sua capital de Napata – na grande enseada do Nilo – para 250 quilómetros mais a sul, onde surgiu a cidade que os historiadores gregos chamaram Meroé. Daí, os reis de Meroé dominaram, servindo-se de um sistema feudal, quase todo o território do actual Sudão, passando por períodos alternados de expansão e de recessão.
A rainha de Meroé tinha um ministro – eunuco, conforme o uso da época – que superintendia os seus tesouros (em especial o ouro que se extraía nas montanhas do deserto oriental) e, por conta disso, fazia viagens ao Egipto, onde fazia negócio com os numerosos comerciantes hebreus aí estabelecidos. Por eles, conheceu a religião monoteísta e a ela aderiu, de tal forma que foi a Jerusalém adorar o Deus de Israel. Como em todos os locais de peregrinação, também em Jerusalém havia bancas de venda de livros, onde o eunuco comprou um rolo de papiro ou pergaminho com os 66 capítulos de Isaías, em língua grega.
No regresso, o ministro negro pôs-se a ler em voz alta; o diácono Filipe, ao escutá-lo, ficou maravilhado e perguntou-lhe: «Compreendes, verdadeiramente, o que estás a ler?» Ao ouvir uma resposta negativa, Filipe ofereceu-se para o ajudar e explicou-lhe que o profeta falava de Jesus de Nazaré... A narração dos Actos termina com o eunuco a receber o baptismo. Teria o ministro sido o evangelizador do seu povo? As lendas assim o pretendem – todas elas fantásticas e credíveis – escritas nos séculos seguintes; mas a história não é da mesma opinião. Se no reino de Meroé tivesse havido uma igreja, os escritores cristãos do Egipto deixar-nos-iam algum relato disso. Pelo contrário, no século V, a Núbia ainda era toda pagã.
Missão de Justiniano
É João, bispo de Éfeso mas funcionário na corte do imperador Justiniano I (527-565), em Constantinopla, quem nos conta, na sua História Eclesiástica, como foi evangelizada a Núbia «partindo do nada». Depois de ter reunido sob o seu ceptro o Império do Ocidente e o do Oriente, Justiniano procurava estabelecer alianças com os reis de além-fronteiras, para proteger os seus confins das incursões dos bárbaros. A sul do Egipto havia três reinos no vale do Nilo, conhecidos pelo nome de Nobadia, com a capital em Pachoras (hoje Faras), Makoria, com a capital em Dôngola, na grande enseada do Nilo, e Alodia, com a capital em Soba, na confluência do Nilo Azul com o Nilo Branco.
O imperador resolveu enviar ao rei de Nobadia uma missão para pregar o Evangelho, segundo a sua fé católica. Sua mulher, Teodora, egípcia e fanática monofisita (em linguagem moderna, copta-ortodoxa), contornou o marido, a fim de aumentar o prestígio do patriarca monofisita Teodósio, perseguido, devido à sua fé, pelo próprio imperador e exilado em Constantinopla. Enviou, então, secretamente, o padre Juliano – seu compatriota – com ordem para as autoridades imperiais do Alto Egipto de o encaminharem para a Núbia antes dos mensageiros do imperador. Em Pachoras, depois de ter apresentado ao rei cartas e dons da imperatriz, Juliano consegue atraí-lo, com todo o seu reino, para a sua causa, e põe-no de sobreaviso contra a pregação dos enviados do imperador. Estes, logo que chegaram, verificaram que o rei já havia abraçado a fé de Teodósio.
As escavações da missão arqueológica polaca em Dôngola – em curso há 30 anos – levam-nos a crer, com indícios cada vez mais evidentes, que os mensageiros de Justiniano, fracassada a missão em Nobadia, prosseguiram para Dôngola, onde realizaram os seus objectivos. O reino de Makoria teria recebido, portanto, a fé católica por volta do ano 550.
Depois de dois anos de permanência em Pachoras (543-545), Juliano regressou a Constantinopla, após ter confiado os neófitos ao seu colega de pregação, o bispo Teodoro de Filé – ilhéu da primeira catarata – e continuou, de quando em quando, a enviar alguns padres, a fim de eles visitarem os fiéis. Em 566, o patriarca Teodósio, no leito de morte, lembra-se dos cristãos de Nobadia e consagra para eles o bispo Longino. O imperador Justino I – católico mais fanático que o seu antecessor – mandou-o logo encarcerar. Mas Longino conseguiu, ao fim de três anos, evadir-se, fugindo para a Núbia, onde fundou estavelmente a Igreja (569-575). Em seguida, participou, em Alexandria, no sínodo para a eleição do novo patriarca, mas só conseguiu regressar a Pachoras em 580, devido a problemas de intrigas. Por fim, o rei de Alodia, que talvez fosse parente do de Nobadia, pediu-lhe para lhe enviar Longino, a fim de evangelizar o seu reino. Assim, entre 543 e 580, todo o vale do Nilo, entre a primeira catarata e a confluência do Nilo Azul-Nilo Branco, se tornou, pelo menos oficialmente, cristão.
Os archeiros núbios
Em 640, um exército árabe, comandado por Amru Ibn al-As, toma Alexandria, a capital egípcia. Diz-se que o patriarca copto Benjamim, em nome dos seus fiéis, abençoou a chegada dos árabes «libertadores» dos opressores bizantinos.
Num ano, os árabes chegaram a Assuão, na fronteira da Núbia. Depois de um período de incursões recíprocas, Amru enviou, em 641, uma grande expedição militar de conquista. Mas a operação não se ficou por um mero passeio, porque os archeiros núbios acertavam em cheio nos invasores. Depois de mais uma tentativa falhada, Saad Ibn Abi Sahr, que sucedera a Amru em 646, assinou, junto às muralhas da capital, Dôngola, um pacto (baqt) com o rei.
A Núbia e os árabes empenharam-se, desta forma, a respeitar as fronteiras e estabeleceram trocas comerciais oficiais: todos os anos, 360 escravos saudáveis teriam de ser enviados para o Egipto, em troca de tecidos, cereais e outras mercadorias. O baqt, embora com algumas violações, permaneceu em vigor até 1270. O envio anual de escravos não suscitava qualquer escândalo na Núbia, porque o rei era tradicionalmente dono de tudo – homens e terras – e os escravos eram, na maioria, despojos de guerra conquistados às tribos vizinhas. Mas mesmo quando era um súbdito a tornar-se escravo, ele aceitava o facto e beijava a terra gritando: «Viva o rei!»
Não obstante o baqt, os núbios e os árabes continuavam em guerra. Mas uma consequência irrefutável do pacto – no campo sociocultural-religioso – foi que a Igreja na Núbia não só sobreviveu como se consolidou. Um documento do ano 710 fala de quatro sedes episcopais na Baixa Núbia (contígua ao Egipto) dependentes do patriarca copto de Alexandria. Mas conhecem-se outras sedes episcopais na Alta Núbia, entre as quais, muito provavelmente, havia algumas dirigidas por bispos católicos. Obviamente que o povo nada percebia das querelas dogmáticas entre coptos (monofisitas) e católicos (duofisitas). Na Núbia ainda se encontram restos de mosteiros masculinos, mas de mosteiros femininos nem sombra.
O cristianismo difundiu-se, de certo modo, pelo estreito vale do Nilo, também nos desertos a oriente e a ocidente do rio.
No ano 36 da nossa era – apenas cinco anos após o Pentecostes –, o cristianismo já havia penetrado no coração da África, na pessoa do eunuco de Candace, rainha de Meroé (Sudão). A notícia que lemos no Actos dos Apóstolos (8.26-39) é muito sóbria, mas apresenta elementos que nos permitem reconstruir com razoabilidade o cenário histórico da conversão do primeiro negro ao cristianismo.
Etiópia – palavra grega que significa «rosto negro» – era o nome que, genericamente, se dava a toda a África a sul do Egipto. Candace era o título da rainha de Meroé. No século VIII antes de Cristo, surgira, ao longo do rio Nilo a sul do Egipto – portanto na África negra – um império cujos imperadores, entre 750 e 650, ocuparam o trono dos faraós. Empurrados ou retirando-se para o Egipto, transferiram a sua capital de Napata – na grande enseada do Nilo – para 250 quilómetros mais a sul, onde surgiu a cidade que os historiadores gregos chamaram Meroé. Daí, os reis de Meroé dominaram, servindo-se de um sistema feudal, quase todo o território do actual Sudão, passando por períodos alternados de expansão e de recessão.
A rainha de Meroé tinha um ministro – eunuco, conforme o uso da época – que superintendia os seus tesouros (em especial o ouro que se extraía nas montanhas do deserto oriental) e, por conta disso, fazia viagens ao Egipto, onde fazia negócio com os numerosos comerciantes hebreus aí estabelecidos. Por eles, conheceu a religião monoteísta e a ela aderiu, de tal forma que foi a Jerusalém adorar o Deus de Israel. Como em todos os locais de peregrinação, também em Jerusalém havia bancas de venda de livros, onde o eunuco comprou um rolo de papiro ou pergaminho com os 66 capítulos de Isaías, em língua grega.
No regresso, o ministro negro pôs-se a ler em voz alta; o diácono Filipe, ao escutá-lo, ficou maravilhado e perguntou-lhe: «Compreendes, verdadeiramente, o que estás a ler?» Ao ouvir uma resposta negativa, Filipe ofereceu-se para o ajudar e explicou-lhe que o profeta falava de Jesus de Nazaré... A narração dos Actos termina com o eunuco a receber o baptismo. Teria o ministro sido o evangelizador do seu povo? As lendas assim o pretendem – todas elas fantásticas e credíveis – escritas nos séculos seguintes; mas a história não é da mesma opinião. Se no reino de Meroé tivesse havido uma igreja, os escritores cristãos do Egipto deixar-nos-iam algum relato disso. Pelo contrário, no século V, a Núbia ainda era toda pagã.
Missão de Justiniano
É João, bispo de Éfeso mas funcionário na corte do imperador Justiniano I (527-565), em Constantinopla, quem nos conta, na sua História Eclesiástica, como foi evangelizada a Núbia «partindo do nada». Depois de ter reunido sob o seu ceptro o Império do Ocidente e o do Oriente, Justiniano procurava estabelecer alianças com os reis de além-fronteiras, para proteger os seus confins das incursões dos bárbaros. A sul do Egipto havia três reinos no vale do Nilo, conhecidos pelo nome de Nobadia, com a capital em Pachoras (hoje Faras), Makoria, com a capital em Dôngola, na grande enseada do Nilo, e Alodia, com a capital em Soba, na confluência do Nilo Azul com o Nilo Branco.
O imperador resolveu enviar ao rei de Nobadia uma missão para pregar o Evangelho, segundo a sua fé católica. Sua mulher, Teodora, egípcia e fanática monofisita (em linguagem moderna, copta-ortodoxa), contornou o marido, a fim de aumentar o prestígio do patriarca monofisita Teodósio, perseguido, devido à sua fé, pelo próprio imperador e exilado em Constantinopla. Enviou, então, secretamente, o padre Juliano – seu compatriota – com ordem para as autoridades imperiais do Alto Egipto de o encaminharem para a Núbia antes dos mensageiros do imperador. Em Pachoras, depois de ter apresentado ao rei cartas e dons da imperatriz, Juliano consegue atraí-lo, com todo o seu reino, para a sua causa, e põe-no de sobreaviso contra a pregação dos enviados do imperador. Estes, logo que chegaram, verificaram que o rei já havia abraçado a fé de Teodósio.
As escavações da missão arqueológica polaca em Dôngola – em curso há 30 anos – levam-nos a crer, com indícios cada vez mais evidentes, que os mensageiros de Justiniano, fracassada a missão em Nobadia, prosseguiram para Dôngola, onde realizaram os seus objectivos. O reino de Makoria teria recebido, portanto, a fé católica por volta do ano 550.
Depois de dois anos de permanência em Pachoras (543-545), Juliano regressou a Constantinopla, após ter confiado os neófitos ao seu colega de pregação, o bispo Teodoro de Filé – ilhéu da primeira catarata – e continuou, de quando em quando, a enviar alguns padres, a fim de eles visitarem os fiéis. Em 566, o patriarca Teodósio, no leito de morte, lembra-se dos cristãos de Nobadia e consagra para eles o bispo Longino. O imperador Justino I – católico mais fanático que o seu antecessor – mandou-o logo encarcerar. Mas Longino conseguiu, ao fim de três anos, evadir-se, fugindo para a Núbia, onde fundou estavelmente a Igreja (569-575). Em seguida, participou, em Alexandria, no sínodo para a eleição do novo patriarca, mas só conseguiu regressar a Pachoras em 580, devido a problemas de intrigas. Por fim, o rei de Alodia, que talvez fosse parente do de Nobadia, pediu-lhe para lhe enviar Longino, a fim de evangelizar o seu reino. Assim, entre 543 e 580, todo o vale do Nilo, entre a primeira catarata e a confluência do Nilo Azul-Nilo Branco, se tornou, pelo menos oficialmente, cristão.
Os archeiros núbios
Em 640, um exército árabe, comandado por Amru Ibn al-As, toma Alexandria, a capital egípcia. Diz-se que o patriarca copto Benjamim, em nome dos seus fiéis, abençoou a chegada dos árabes «libertadores» dos opressores bizantinos.
Num ano, os árabes chegaram a Assuão, na fronteira da Núbia. Depois de um período de incursões recíprocas, Amru enviou, em 641, uma grande expedição militar de conquista. Mas a operação não se ficou por um mero passeio, porque os archeiros núbios acertavam em cheio nos invasores. Depois de mais uma tentativa falhada, Saad Ibn Abi Sahr, que sucedera a Amru em 646, assinou, junto às muralhas da capital, Dôngola, um pacto (baqt) com o rei.
A Núbia e os árabes empenharam-se, desta forma, a respeitar as fronteiras e estabeleceram trocas comerciais oficiais: todos os anos, 360 escravos saudáveis teriam de ser enviados para o Egipto, em troca de tecidos, cereais e outras mercadorias. O baqt, embora com algumas violações, permaneceu em vigor até 1270. O envio anual de escravos não suscitava qualquer escândalo na Núbia, porque o rei era tradicionalmente dono de tudo – homens e terras – e os escravos eram, na maioria, despojos de guerra conquistados às tribos vizinhas. Mas mesmo quando era um súbdito a tornar-se escravo, ele aceitava o facto e beijava a terra gritando: «Viva o rei!»
Não obstante o baqt, os núbios e os árabes continuavam em guerra. Mas uma consequência irrefutável do pacto – no campo sociocultural-religioso – foi que a Igreja na Núbia não só sobreviveu como se consolidou. Um documento do ano 710 fala de quatro sedes episcopais na Baixa Núbia (contígua ao Egipto) dependentes do patriarca copto de Alexandria. Mas conhecem-se outras sedes episcopais na Alta Núbia, entre as quais, muito provavelmente, havia algumas dirigidas por bispos católicos. Obviamente que o povo nada percebia das querelas dogmáticas entre coptos (monofisitas) e católicos (duofisitas). Na Núbia ainda se encontram restos de mosteiros masculinos, mas de mosteiros femininos nem sombra.
O cristianismo difundiu-se, de certo modo, pelo estreito vale do Nilo, também nos desertos a oriente e a ocidente do rio.
Os Manuscritos de Timbuktu
Timbuktu acumulou uma extensa e eclética coleção de manuscritos trazidos pelos diversos viajantes que passaram pela cidade

Preciosos Manuscritos
Escritos preciosos estão ameaçados de decomposição e de pilhagem por traficantes
Em Timbuktu, a descoberta progressiva de antigos manuscritos, dentre os quais alguns datados do século XIII, está em vias de se tornar uma referência histórica importante para toda a África.
Durante o período colonial, as famílias de Timbuktu, que tinham o hábito de colecionar bibliotecas particulares constituídas por manuscritos em pergaminho, decidiram esconder seus livros, para evitar a pilhagem. Por isso, as obras passaram os últimos séculos escondidas. Os manuscritos foram enterrados, escondidos no fundo de poços ou levados para longe, em grutas ou no deserto do Saara. Desde 1964, a Unesco lançou um apelo para recuperar e reunir esse precioso acervo. A partir dos anos 90, parte dele começou a aparecer (cerca de 200 bibliotecas particulares), e vem sendo alvo de projetos de preservação e conservação.
Mais de 15 mil documentos já foram exumados e catalogados sob orientação da Unesco. Outros 80 mil jazem ainda em algum lugar, em baús ou no fundo de celeiros da cidade mítica. Esses escritos preciosos, que fizeram a glória do vale do rio Níger entre os séculos XIII e XIX , estão ameaçados de decomposição e de pilhagem por traficantes.
Obras raríssimas, escritas em língua árabe, por vezes no dialeto fula (peul), por eruditos originários do antigo império do Mali , circulam pela Suíça, onde são alteradas e depois oferecidas a colecionadores que disputam sua posse. Chefe da missão cultural de Timbuktu, Ali Uld Sidi não esconde sua preocupação: “Os manuscritos cujos depositários são os habitantes devem ser identificados, protegidos e restaurados, caso contrário Timbuktu será privada de sua memória escrita. É uma memória que quem guarda nem imagina o valor”.
Época de ouro
A cidade foi um centro de comércio importante entre o antigo Sudão e o Magreb
Timbuktu, a “cidade santa”, a “misteriosa”, a “inacessível”, que fascinou tantos exploradores – do escocês Mongo Park ao francês René Caillié e o alemão Heinrich Barth – é uma fabulosa cidade de areia situada no nordeste do atual Mali, nos confins do sul do imenso deserto do Saara e um pouco afastada da margem esquerda do rio Níger.
Fundada por volta do século XI pelos tuaregues, a cidade se impôs, a partir do século XIV, como um centro de comércio importante entre o antigo Sudão e o Magreb. O sal de Taudenni (Mali), o ouro das minas de Buré (Etiópia) e os escravos de Gana transitavam por ali. Mercadores árabes e persas conviviam com viajantes e filósofos muçulmanos, levados pelo desejo ardente de arregimentar para a fé de Alá as populações locais.
Foi a época em que a África saheliana se dividiu entre os impérios que se converteram ao Islã e os outros. Se o dos mossis (atual Burkina Faso) resistiu em se entregar à religião de Maomé, o império songai – sucessor do império do Mali no final do século XIV – aderiu a ela. Assim, a expansão dos manuscritos confunde-se com a islamização.
As três grandes cidades da região (Timbuktu, Gao e Djanné) tornaram-se os pólos de uma efervescente civilização islamo-sudanesa cuja memória permaneceu viva. No século XV, Timbuktu contava com não menos de 100 mil habitantes (30 mil atualmente), dentre os quais 25 mil “estudantes” que freqüentavam a universidade de Sankoré, atualmente transformada em mesquita.
As conferências dos ulemás, sábios muçulmanos, eram transcritas por copistas sobre a casca de árvores, omoplatas de camelos, peles de carneiro, ou papel proveniente do Oriente e depois da Itália. Dessa forma, ao longo dos séculos, foi se constituindo um precioso corpus filosófico, jurídico e religioso.
Comércio e conhecimento
Considerados como um maná científico inédito, os manuscritos contradizem o mito da oralidade africana
Além disso, todo um saber didático – consignando desordenadamente o curso dos planetas, a tonalidade das cordas de um instrumento musical, a cotação dos tecidos e da noz-de-cola – foi conservado nos mínimos recônditos das páginas desses manuscritos nômades.
As caravanas que se deslocavam entre Agadez (Níger) e Tichit (Mauritânia), passando por Sokoto (ao norte da Nigéria), transportavam uma multiplicidade de informações destinadas a mercadores esclarecidos. Durante cerca de três séculos, o comércio e o conhecimento enriqueceram-se mutuamente, no dorso dos camelos, entre barras de sal e sacos de tabaco.
Considerados como um maná científico inédito, esses manuscritos contradizem o mito da oralidade africana sustentado por intelectuais, como o falecido Hamadou Hampâté Bâ. Mas que valor científico pode ser dado a documentos que se tornaram objetos de especulação em vez de instrumentos de compreensão do passado? Como apossar-se desse acervo de conhecimentos escritos que os estragos do tempo ameaçam fazer desaparecer? São tantas questões que alimentam especulações de professores norte-americanos e de historiadores locais.
Portanto, em pleno coração de Timbuktu, no Centro de Documentação e Pesquisas Ahmed Baba (Cedrab), criado pelo governo por iniciativa da Unesco em 1970, joga-se uma grande partida da consciência histórica da África. Ao escolher o nome de Ahmed Baba, erudito nascido em 1556 que ensinou direito islâmico (fatwa), as autoridades homenageiam um resistente ao invasor marroquino. Elas honram, dessa forma, um sábio que exerceu uma influência considerável sobre seus concidadãos e cuja ortodoxia dos ensinamentos continua a influenciar as mentes.
Frágil tesouro
Para conhecer o conteúdo dos manuscritos, basta se aproximar de famílias que os guardam
O Cedrab recebeu como missão catalogar, proteger e restaurar os manuscritos encontrados. O papel é um suporte frágil: sofre com a umidade e o fogo; seca, quebra, rasga-se e acaba em poeira. Os cupins o adoram. O ministro da cultura, xeque Omar Sissolo, especifica: “Por não poder recuperar a totalidade desses manuscritos, procuramos estimular a criação de fundações particulares que permitam reconstituir rapidamente acervos de origens familiares; é o melhor meio de responsabilizar os cidadãos e ao mesmo tempo proteger esse tesouro”.
Pois a maioria desses misteriosos manuscritos pertencem a particulares. Para conhecer o conteúdo deles, basta se aproximar de famílias que nos acolhem de braços abertos. Por exemplo, Ismael Diadé Haidara, que encontramos diante de seu computador com o qual escreve livros de filosofia e de história, como Les Juifs à Tombouctou. Os judeus desempenharam um papel importante no transporte do ouro do Sudão para a Espanha cristã. Foi por meio deles que um dos pais da cartografia, Abraham Cresques (1325-1387), judeu das ilhas Baleares, cuja família emigrou do norte da África no início do século XII, teve conhecimento de Timbuktu, que era ligada ao norte da África por caminhos cujos portos eram habitados por judeus. Leon, o Africano, desde a primeira metade do século XV, menciona a presença de judeus no reino de Gao.
Saber medieval
Graças a alguns tradutores contemporâneos, todo um afresco africano remonta à superfície da história
Descendente da dinastia Kati, Haidara tem um cuidado meticuloso em explicar a história de sua fundação, instalada nas proximidades da mesquita Jingereber, numa antiga residência restaurada de Timbuktu: “Todo esse acervo começou a ser formado com o exílio de um antepassado meu, o visigodo islamizado Ali B. Ziyad al-Kuti, que saiu de Toledo em 1468 para vir instalar-se em Gambu, na região soninquê.
Desde então, a biblioteca não deixou de se enriquecer através de várias gerações de Kati, meus ancestrais. Em 1999, decidimos exumá-los”. Um resumo do saber medieval está representado nessa biblioteca: tratados de boa governança, textos sobre os malefícios do tabaco, compêndios de farmacopéia... Obras de direito, de teologia, de gramática e de matemática são comentadas por sábios de Córdoba, de Bagdá ou de Djenné.
Sobre as prateleiras gradeadas, protegidas das destruidoras poeiras de areia, atas jurídicas referem-se à vida dos judeus e de renegados cristãos em Timbuktu, e demonstram a intensa atividade comercial da época. A venda e a alforria dos escravos, as cotações do sal, das especiarias, do ouro e de plumas são objeto de pergaminhos colocados junto da correspondência entre soberanos das duas margens do Saara, ilustrada com iluminuras em ouro.
O conjunto é sublinhado, explicado, anotado na margem ou no colofão, essa última página de um livro ou de um final de rolo de papiro na qual o copista anota seu nome e a data em que terminou seu trabalho. Fica-se sabendo aí, pelo subterfúgio de uma encantadora manipulação, a ocorrência de tremores de terra ou de uma violenta rixa que perturbou as escritas.
Graças a alguns tradutores contemporâneos, todo um afresco africano remonta à superfície da história. Não existe nenhuma homogeneidade nesses textos, e com razão: se a esmagadora maioria desses manuscritos é redigida em árabe, cada copista expressava-se em função de suas origens (tamashek, haussa, peul, mas também sonrai, diúla, soninquê ou wolof), segundo uma base caligráfica comum inspirada no maghribi, espécie de escrita árabe cursiva que, por sua forma, permitia economizar papel.
Substrato histórico
O pensamento africano cultivava o amor de um islã aberto para o universal
O valor de determinados documentos é evidente, em especial o do famoso Tarikh el-Sudan (História do Sudão), de Mahmoud Kati (século XV), que traça a sucessão dos chefes de Timbuktu. Da mesma forma, Tarikh el-Fetash (História do pesquisador), de Abderahmane es-Saad (século XVII), crônica do Sudão medieval.
A descoberta desses manuscritos dá à África subsaariana o substrato histórico que lhe foi negado durante muito tempo e do qual se começa a perceber a importância. Como uma resposta aos trabalhos de um grande historiador senegalês, o xeque Anta Diop, ela destaca a profundidade espiritual da África pré-colonial. Mostra também que a riqueza dessa região foi construída ao redor de uma dinâmica comercial “trans-tribal” da qual o Islã foi o desencadeador, e os ulemás, por sua aptidão para o ensino de “massa”, os realizadores.
Daí resultou uma espécie de continuum cultural a partir do qual a dimensão mística se consolidou sobre heranças mais ou menos estruturadas, até a chegada dos portugueses no século XV. O xeque Dan Fodio (1754-1817), por ter se inspirado em seus predecessores, em particular Ahmed Baba, confirma em suas memórias que, até a chegada dos europeus, “o pensamento africano cultivava o amor de um islã aberto para o universal que se distinguia muito nitidamente daquele observado no mundo arabo-muçulmano”. Constatação confirmada no início do século XX.
Do deserto para a internet
Os importantes manuscritos do Timbuktu, datados dos séculos XV a XIX e descobertos nos últimos anos, estão sendo digitalizados e colocados na internet
De Timbuktu até aqui, revertendo a famosa expressão, as palavras escritas do lendário oásis africano estão sendo entregues via caravana eletrônica. Um carregamento de livros e manuscritos, alguns apenas recentemente resgatados da decadência, foi digitalizado para a internet e distribuído para acadêmicos por todo o planeta.
São trabalhos sobre leis e história, ciência e medicina, poesia e teologia, relíquias da era dourada de Timbuktu como uma encruzilhada em Mali para troca por ouro, sal e escravos ao longo do limite meridional do Sahara. Se o nome é agora sinônimo para uma distância misteriosa, a literatura declara que seu papel anterior era o de um vibrante centro intelectual.
Nos anos recentes, milhares destes livros amarrados em couro e frágeis manuscritos foram recuperados de arquivos de família, bibliotecas particulares e depósitos. Os primeiros cinco dos raros manuscritos de bibliotecas particulares foram digitalizados e disponibilizados na internet para acadêmicos e estudantes no sitewww.aluka.org.
O projeto para colecionar os manuscritos digitais foi organizado pela Aluka, uma companhia internacional sem fins lucrativos dedicada a trazer conhecimento da e sobre a África para o mundo acadêmico.
Em parceria com um consórcio de bibliotecas privadas em Timbuktu e com o financiamento da Fundação Andrew W. Mellon (Andrew W. Mellon Foundation), a Aluka alistou técnicos em mídia da Northwestern University para projetar e montar um estúdio de fotografia de alta resolução em Timbuktu. Uma equipe local foi treinada para operar o estúdio.
Muitos documentos na graciosa caligrafia Arábica são um deleite visual. Embora a escrita seja em sua maioria em Arábico, alguns manuscritos trazem vernáculos adaptados para a escrita Arábica, o que com certeza representará um desafio para os acadêmicos.
"Os manuscritos de Timbuktu agregam grande profundidade ao entendimento da diversidade de história e civilizações da África,” diz Rahim S. Rajam, gerente de desenvolvimento de coleção da Aluka.
Pesquisadores têm sido atingidos pela gama de assuntos que atraíram os acadêmicos de Timbuktu por muitos séculos e adentrando o século XIX. A maior parte dos primeiros manuscritos digitalizados é do século XV ao XIX. Os tópicos incluem as ciências da astronomia, matemática e botânica; artes literárias; práticas e pensamentos da religião Islâmica; provérbios; opiniões legais; e explicações históricas.
“É um rico arquivo de literatura histórica e intelectual que está apenas começando a tornar-se mais amplamente entendida e acessível a um largo grupo de acadêmicos e pesquisadores,” comenta Rajan, que é especialista em estudos do Oriente Médio.
Enquanto não há substituto para consultar os manuscritos reais, diz Wallach, é melhor lê-los em sua forma digital. Muitas das páginas dos originais são tão frágeis que não podem ser manuseadas.
Mesmo que a Timbuktu contemporânea seja uma sombra opaca e poeirenta de seu renomado passado, vivendo principalmente dos poucos turistas ainda atraídos por seu nome e lenda, as páginas de sua história estão emergindo da obscuridade e, em alguns casos, sendo disseminadas à velocidade da luz.
O Comércio de Homens
Os reinos comerciais de bens na África deram lugar a reinos escravizadores. A acumulação de bens e poder, desenvolvida pelos segmentos senhoriais de negros, passou a ser efetuada, em grande parte, através da expatriação de jovens africanos reduzidos ao cativeiro. É impossível falar com precisão, estimasse que entre 09 e l5 milhões de africanos foram enviados à América. O crescimento do comércio escravista lançou a África em uma situação de terror e medo.
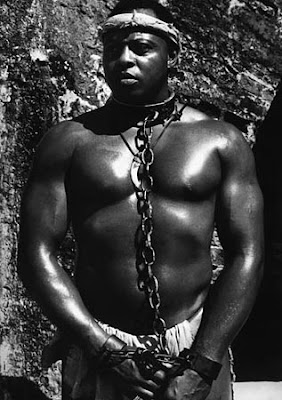
Guerreiro mandingo escravizado.
Estados africanos com armas de fogo cedidas pelos europeus, escravizavam as nações vizinhas que, por sua vez caçavam cativos para comprarem as armas que lhes permitiriam escapar ao aprisionamento.
O tráfico escravista determinou o destino da África. Sob o ataque de escravistas, regiões inteiras se despovoaram. Para escaparem de uma fácil escravização, inúmeros povos se internaram nos sertões ou abandonaram as margens férteis dos rios navegáveis. As operações de escravização destruíam colheitas, cidades e plantações. O Ciclo escravista perverteu as instituições políticas africanas, tais como a justiça aldeã, que passaram a ser utilizadas crescentemente com o exclusivo fim de produzirem cativos. Homens e mulheres, que viviam as diversas formas semi-servis de subordinação social conhecidas pela África Negra, passaram a ser vendidos aos negreiros da costa. Os membros e dependentes de uma família, em caso de dívida, carestia, etc., podiam terminar como escravos, nas plantações coloniais do novo mundo.
Calcula-se que todo esse processo escravista, tenha roubado da África atual, um mínimo de 100 milhões de habitantes! Quando o tráfico foi interrompido, o continente negro encontrava-se exangue, devido a mais de três séculos de hemorragia incessante.
Então o trafico foi substituído pela exploração direta da Europa, cada nação européia ficou com um pedaço na época.
Hoje é bom observar como o continente africano e retalhado com linhas retas, enquanto os outros continentes as fronteiras são “naturais”.
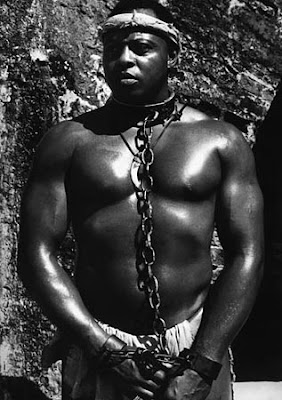
Estados africanos com armas de fogo cedidas pelos europeus, escravizavam as nações vizinhas que, por sua vez caçavam cativos para comprarem as armas que lhes permitiriam escapar ao aprisionamento.
O tráfico escravista determinou o destino da África. Sob o ataque de escravistas, regiões inteiras se despovoaram. Para escaparem de uma fácil escravização, inúmeros povos se internaram nos sertões ou abandonaram as margens férteis dos rios navegáveis. As operações de escravização destruíam colheitas, cidades e plantações. O Ciclo escravista perverteu as instituições políticas africanas, tais como a justiça aldeã, que passaram a ser utilizadas crescentemente com o exclusivo fim de produzirem cativos. Homens e mulheres, que viviam as diversas formas semi-servis de subordinação social conhecidas pela África Negra, passaram a ser vendidos aos negreiros da costa. Os membros e dependentes de uma família, em caso de dívida, carestia, etc., podiam terminar como escravos, nas plantações coloniais do novo mundo.
Calcula-se que todo esse processo escravista, tenha roubado da África atual, um mínimo de 100 milhões de habitantes! Quando o tráfico foi interrompido, o continente negro encontrava-se exangue, devido a mais de três séculos de hemorragia incessante.
Então o trafico foi substituído pela exploração direta da Europa, cada nação européia ficou com um pedaço na época.
Hoje é bom observar como o continente africano e retalhado com linhas retas, enquanto os outros continentes as fronteiras são “naturais”.
Galeria de arte no coração do Saara
No sudeste do Deserto do Saara encontra-se um dos maiores acervos mundiais de arte rupestre. Desenvolvido pelas populações locais ao longo de sete milênios, essa arte testemunha a grande mudança climática ocorrida na região

Teremos descoberto a Atlântida enterrada?”, escreveu cheio de entusiasmo Henri Lhote em seu caderno de notas, em 1933. Ao tomar conhecimento do conteúdo do relatório de uma patrulha do exército francês na bacia do “oued” (curso d’água) Djerat, esse explorador e etnólogo francês correu para o sudeste do Saara argelino. O que deveria ser uma simples visita científica se converteu logo numa longa exploração arqueológica que durou 18 meses. O que Lhote descobriu nas montanhas de Tassili-n-Ajjer superou todas as suas expectativas: as paredes rochosas desse desfiladeiro de 30 quilômetros de extensão estavam literalmente cobertas de inscrições e, sobretudo, de pinturas rupestres.

Essas pinturas dão testemunho de um mundo único. Nelas, girafas, elefantes, antílopes, leões, bovídeos e cavalos narram a vida dos caçadores e dos pastores de outrora. Tais imagens documentam um Saara verdejante, cheio de vida animal e humana, antes que uma mudança radical do clima na região pusesse fim a um período de abundância sobre esse planalto de 700 quilômetros de extensão por 100 quilômetros de largura. É simplesmente impressionante o contraste entre o que se observa nessas pinturas e a paisagem de deserto árido na qual a região se tornou desde então.

Lhote identificou quatro estilos sucessivos na execução dessas pinturas e inscrições, cujas datações e características foram depois aperfeiçoadas por outros especialistas. O primeiro período é o das “cabeças redondas”, caracterizado por desenhos inteiramente cor violeta de seres humanos nus, sem diferenciação de sexo. Após a descoberta de tons ocres, as pinturas se tornam mais detalhadas: já é possível distinguir-se a musculatura das pernas e dos braços. Pinturas e inscrições de animais como o búfalo gigante, já extinto, também se encontram entre esses primeiros trabalhos.


As primeiras populações de pastores sedentários do Tassili descobriram então novas cores. A mistura do vermelho e do branco com o ocre, já conhecido, possibilitou uma vasta paleta de nuances, do amarelo claro ao chocolate. Já as pinturas do “período dos bovídeos” correspondem à chegada de bovinos à África do Norte, ao redor de 4500 a.C., e que durou até meados do terceiro milênio antes de Cristo.
Nessa fase, as proporções da pessoa representada são bem exageradas: parece que o importante era o tamanho, e não a beleza. Ao mesmo tempo, homens e animais ganham em termos de realismo. Rebanhos e pastores parecem correr com a velocidade do vento. Perto dessas imagens, nas mesmas paredes de pedra, outras pinturas mostram homens que se banham nas águas de um rio.
O apaixonado Lhote
Durante os 16 meses em que durou sua expedição ao Tassili, Henri Lhote não limitou seu trabalho a simples levantamentos do material encontrado na área. Indo muito mais além, ele classificou as pinturas, estabeleceu grupos e conjuntos com características bem definidas, procurou atribuir a eles um lugar no tempo. Nasceu assim a primeira classificação das pinturas do Saara central, da qual as linhas principais se ajustam perfeitamente às classificações de arte rupestre estabelecidas por outros estudiosos como Flamand e Monod.
Os primeiros croquis das pinturas e inscrições rupestres do Tassili foram feitos, no fim da década de 1930, pelo tenente Brenans, eminente especialista em pré-história que acompanhou Lhote na região de Djanet. O sonho de ambos era tornar conhecidos no mundo os misteriosos desenhos do Tassili. Eles foram finalmente apresentados ao mundo científico no congresso de pré-história, realizado em Argel, em 1952.
Em 1956, o Museu do Homem, de Paris, na França, chamou Lhote para dirigir uma grande campanha destinada a inventariar o acervo rupestre do Tassili. A descoberta desses desenhos constitui o acontecimento mais importante no setor das pesquisas sobre pré-história naquela época.
A seguir, representações de cavalos mostram um progressivo desenvolvimento cultural dos habitantes do Tassili. É o “período dos cavalos”, que corresponde à introdução desses animais no norte da África, segundo atestam descobertas arqueológicas, em cerca de 2000 a.C.
Finalmente, ao redor dos anos em que Jesus Cristo viveu, tem início no Tassili um “período dos camelos”, também correspondendo aos tempos em que esses animais (na verdade dromedários) surgiram na África do Norte. Pouco a pouco, os dromedários se tornam os animais de carga por excelência na região, ao mesmo tempo que, curiosamente, a pintura rupestre perde sua importância na vida das comunidades humanas.

No Tassili, o período dos camelos assinala o retorno ao desenho rudimentar. As descrições de cenas do cotidiano tornam-se cada vez menos realistas. Ao mesmo tempo, as pinturas começam a apresentar outros elementos, tais como carruagens e escudos, além dos já citados dromedários.
Embora próxima da Península Ibérica – onde também há abundância de arte rupestre primitiva –, acredita-se que essa arte na Argélia e sobretudo no Tassili se desenvolveu de forma independente dos estilos da Europa.
Quanto às pinturas do período das “cabeças redondas”, Lhote observou um importante paralelo estilístico com os desenhos da antigüidade egípcia. Ele descobriu inclusive seis desenhos de barcos de um modelo de uso corrente no Nilo.
“Os pastores do Tassili mantinham uma relação com a civilização egípcia. Eles provavelmente vieram do leste e se fixaram aqui”, conclui o arqueólogo. Ao mesmo tempo, vários elementos de outros desenhos sugerem que parte dos habitantes do Tassili não era originária do Egito, e sim da África Negra.
“Não descobrimos a Atlântida”, admitiu Lhote ao final de sua viagem, “mas aprendemos algo muito mais importante. Podemos provar que o Saara central é, desde o Neolítico, um dos mais importantes sítios de colonização da pré-história. Há muito tempo, o deserto estava recoberto por gigantescos prados verdejantes e povoado por numerosas civilizações que nos deixaram o testemunho de sua existência.
Entre tribos selvagens
Uma visita ao vale do Rio Omo, na Etiópia, um dos cantos mais isolados da África, onde as tribos guerreiam entre si como há milhares de anos

Depois de vinte dias navegando pelo Rio Omo, os sentidos começam a se adaptar. Especialmente o olfato. Não existem os perfumes, os cheiros e a poluição da civilização, que deixam o nariz atordoado. Aqui é o sertão do vale do Rio Omo, na Etiópia, a 800 quilômetros de Adis-Abeba. As duas margens do rio são altas, mas pelo cheiro dá para saber o que acontece acima do barranco. O odor da madeira queimada significa que alguém está acampando, o de excremento de gado é sinal de que estão tocando o rebanho em direção ao rio. Todas essas informações são trazidas a distância pela brisa morna. Desta vez, o cheiro de gado chega bem antes do ruído das reses e da visão dos guerreiros nyagatons, na contraluz, imóveis debaixo do sol da tarde, no alto da margem. O calor é de quase 40 graus, e os guerreiros contemplam, em silêncio, o pequeno barco em que viajamos.

O comportamento-padrão dos nyagatons é intimidatório, seja pela atitude, pela maneira de falar ou pelo armamento que carregam (desse lado do rio todos usam o G3, um fuzil de assalto alemão, com maior poder de fogo do que o AK-47, mais comum na região), e eles estão em guerra, expulsando as outras tribos. No momento estão de olho na tribo dos mursis, que, para escapar às emboscadas constantes, se retiraram para as montanhas. A atitude agressiva muda quando percebem que nosso guia é também um nyagatom. As apresentações são feitas, e tudo fica combinado: quando voltarmos amanhã encontraremos uma multidão de guerreiros que deixarão as armas de lado para dançar com as mulheres da tribo. Alegres, festejarão a presença de estrangeiros.

O acesso por terra ao vale do Rio Omo é precário. O melhor caminho é pelo rio, mas só quando está cheio, logo após a estação das chuvas, que termina em setembro. Um único empreendedor, o holandês Hallewjin Schurman, montou acampamentos na região e leva para lá pequenos grupos de turistas em barcos motorizados. É uma viagem fascinante a um mundo perdido. Entre o acampamento e os nyagatons navegamos quatro horas contra a correnteza do Omo, que, cheio de curvas, desliza entre matas de figueiras e tamarindos, cerrados e desertos. Sempre em alta velocidade, e em ziguezague, evitamos os pedaços de madeira que o rio arrasta e os hipopótamos que, sem avisar, emergem à nossa frente. Crocodilos de todos os tamanhos, alguns leões e um par de leopardos nos contemplaram indiferentes. Encontrar os nyagatons é um momento mágico emoldurado por uma paisagem bela e selvagem.
A Etiópia é o único país do continente africano que nunca foi colônia européia. Na década de 70, o último imperador, Haile Selassie, foi deposto por um violento golpe de Estado de orientação marxista, e a normalidade só voltou em 1995. Com suas verdes montanhas de picos impressionantes, seus vales cultivados e rios caudalosos, a Etiópia é uma espécie de caixa-d'água da África Oriental. O Nilo Azul, por exemplo, nasce nas montanhas etíopes. Apesar disso, o país é lembrado sobretudo pela fome tristemente famosa e pela guerra com a Eritréia, que terminou em 2000. O vale do Rio Omo, na fronteira com o Sudão e o Quênia, é uma área de mais de 4.000 quilômetros quadrados com intensa vida tribal e muito pouco visitada.

O rio, que nasce ao sudoeste de Adis-Abeba, capital da Etiópia, percorre quase 1.000 quilômetros, mas não chega ao mar. É o principal afluente do Lago Turkana, no Quênia. O Omo divide a vida no vale: ao leste, as tribos dos karos, dos hamares e dos mursis. Do outro lado, os nyagatons e os quegos. Todos vivem da criação de gado. Mesmo os dassanechs, mais ao sul, na entrada do Lago Turkana, apesar de cultivar o sorgo (o cereal é armazenado em pequenas bolas feitas com galhos secos no alto de torres precariamente construídas para evitar a umidade), também são criadores de gado.


O aumento da população e dos rebanhos tornou letal a disputa por território. A única maneira de expandir o próprio domínio é com a ajuda dos fuzis AK-47 que cada habitante do vale carrega displicentemente no ombro. Uma bala custa 25 centavos de real. Os hamares vivem nas montanhas e praticam uma economia de subsistência agropastoril. Organizam-se segundo um elaborado sistema de agrupamento social por idade. Passar de um grupo a outro envolve complicados rituais. A maturidade, dizem misteriosamente os mais velhos, só acontece quando o coração chega aos olhos. Os mursis são reconhecíveis pelos desenhos brancos que cobrem seu corpo e pelo pedaço circular de madeira que as mulheres usam no lábio inferior. A origem do adereço está nos tempos em que os mursis eram perseguidos para ser vendidos como escravos. Foi a maneira encontrada para tornar as mulheres menos atrativas. Hoje é um sinal de beleza. Os karos são pouco mais de 1.500 e abandonaram alguns anos atrás a vida nômade. Vivem essencialmente em três aldeias – Labuck, Duss e Korcho – e praticam um rígido controle de natalidade. Crianças nascidas fora do casamento são deixadas para morrer debaixo de um arbusto com a boca cheia de areia.


Os quegos são os menos numerosos. Eram escravos dos karos, mas recentemente foram liberados pelos nyagatons, a tribo mais numerosa e feroz. A palavra nyagatom significa "comedores de elefantes", e eles se esforçam para demonstrar que são realmente destemidos. Caçam crocodilos em pé sobre uma canoa, armados apenas de um arpão, ou passam temporadas servindo como mercenários para os conflitos do vizinho Sudão (a fronteira está a menos de 100 quilômetros dali). A circuncisão masculina e a infibulação feminina, as punições por chicotadas, tudo continua sendo feito da mesma maneira através de gerações. As crianças aprendem desde cedo que não existe a palavra "ladrão". Roubar é permitido, mas quem é apanhado acaba chicoteado.
A prática da escarificação e da pintura corporal atinge patamares sofisticadíssimos. Para eles, a escarificação é um atestado de bravura. Um guerreiro não pode ostentar nenhuma cicatriz até que tenha matado um inimigo. Para uma mulher, as cicatrizes são uma maneira de ficar atrativas para os homens. As escarificações são feitas com facas, pedras ou pregos. Depois a ferida é coberta com cinzas. Isso provoca uma pequena infecção, que, mais tarde, vai deixar a marca com relevo na superfície da pele. Com suas tradições preservadas, o vale do Rio Omo é um museu de história natural ao vivo e em três dimensões.
Luanda é nossa
Os soldados brasileiros foram os primeiros da América a cruzar o Atlântico para guerrear no Velho Mundo. A missão era expulsar
os holandeses de Angola e restabelecer o tráfico de escravos
os holandeses de Angola e restabelecer o tráfico de escravos

Já fazia quase cinco anos que os senhores de terra olhavam pelas janelas de seus casarões esperando por dias melhores. O problema era, de fato, preocupante: faltavam braços negros para tocar os engenhos de cana-de-açúcar, o motor da economia da colônia nos idos de 1600. A penúria arrastava-se desde 25 de agosto de 1641, quando os holandeses invadiram Luanda, capital da Angola, e passaram a controlar o tráfico de escravos para o Brasil. A única capitania que não sofria com a escassez de mão-de-obra era Pernambuco, então governada pelo holandês Maurício de Nassau. Com a situação cada vez pior, os governantes locais, apoiados pela coroa portuguesa, decidiram tomar uma atitude. Foi então que pela primeira vez na história do Novo Mundo soldados cruzaram o Oceano Atlântico para guerrear no Velho Mundo. “O rei D. João IV autorizou as expedições, mas não forneceu tropas ou munição, já que o combalido reino estava em guerra com a Espanha”, diz o professor de História do Brasil na Universidade de Sorbonne, na França, Luiz Felipe de Alencastro.
A soldadesca tupiniquim zarpou do Rio de Janeiro no dia 8 de maio de 1645. No comando da expedição, estava o governador fluminense Francisco de Souto Maior, destituído do cargo pela coroa para encabeçar a briga na Angola. A tropa de Souto Maior, formada por algumas dezenas de índios e 300 soldados, viajou em cinco navios. Ao mesmo tempo, da Bahia, saíram mais três navios, com uma tripulação de 200 soldados, que incluíam 32 mosqueteiros. “Os baianos foram treinados pelo líder negro pernambucano Henrique Dias, um grande guerreiro”, diz Alencastro. A idéia do ex-governador do Rio era reunir todos os combatentes brasileiros na costa africana e partir para a guerra da reconquista de Luanda, uma bela cidade com 5 mil casas de alvenaria e um excepcional mercado de escravos. Souto maior só não sabia quem esperava sua turma do outro lado do Atlântico.
A tropa baiana, liderada pelo sargento-mor Domingos Lopes Siqueira, foi a primeira a encarar a recepção africana. Ao desembarcar na enseada de Quicombo, a coluna caiu nas mãos dos jagas, tribo canibal aliada dos holandeses. Só sobraram quatro soldados. Armados de machadinhas, os jagas esquartejaram os invasores e fizeram um banquete, devorando quase duas centenas de brasileiros. Souto Maior não teve melhor sorte. Assim que pisou em solo angolano, ele organizou uma ofensiva, mas acabou morto em maio de 1646. Foi envenenado pelos jagas. Mesmo com o fiasco dessa primeira campanha, os brasileiros conseguiram trazer para o Rio dois mil escravos, o que deu novo alento para os donos de engenho, que se entusiasmaram com uma nova expedição.
Dois anos depois, os brasileiros já estavam de novo no mar, rumo a Luanda. A expedição, capitaneada pelo novo governador do Rio, Salvador de Sá, deixou a Baía de Guanabara no dia 12 de maio de 1648. Para conseguir recrutar soldados, Salvador de Sá apelou para o apoio divino. Os jesuítas pregaram colônia afora a expulsão dos “hereges calvinistas”. A força-tarefa reuniu oficialmente 1200 homens a bordo de onze naus e quatro pequenas embarcações. “O padre Antônio Vieira, contrário ao conflito, dava conta que o número de soldados passava de dois mil, acusando o governante de deixar o Rio de Janeiro sem defesas”, diz Alencastro. Já o historiador Charles Ralph Boxer documentou entre 1400 e 1500 homens em seu livro Salvador de Sá e a Luta pelo Brasil e Angola . Ou seja, ninguém sabe quantos homens participaram da segunda expedição. Só se tem certeza que não havia índios e que a tropa contava com combatentes de capitanias do nordeste, além de fluminenses, angolanos refugiados e portugueses.
A travessia não foi um passeio. Pairava no ar a ameaça de ataque da armada holandesa, comandada pelo almirante Witte de With. E o tempo também não ajudou. Duas naus, a Gamela e a Canoa, tiveram de retornar ao Rio de Janeiro devido a avarias causadas por tempestades, e duas outras embarcações e o galeão São Luis diversas vezes se distanciaram da frota. Quando avistou a costa da África, Salvador de Sá contava com 11 dos 15 navios de sua esquadra. Seu primeiro plano era atacar Benguela, mas ancorou em Quicombo no dia 27 de julho. Enquanto a tripulação preparava-se para o desembarque, uma tragédia anunciou os tempos difíceis que viriam pela frente: uma onda gigante afundou o São Luís. De acordo com cartas náuticas da época, o navio “se fez pedaços pouco depois da meia-noite, levando consigo mais de duzentos soldados, entre os melhores da expedição”.
Sem tempo para choro ou velas, Salvador de Sá rumou para Luanda. Na foz do rio Maçangano, uma pequena comitiva desembarcou para avisar os portugueses refugiados no interior do país da chegada de reforços. Mais um contratempo, no entanto, atravessou o caminho dos brasileiros. Nativos aliados dos inimigos aprisionaram os soldados e os levaram para um posto holandês no Forte Mols, na foz do rio Cuanza. O trunfo de Salvador de Sá, o elemento surpresa, foi enterrado aí. Ele, no entanto, continuou a empreitada. A esquadra do Brasil aproximou-se da capital angolana no dia 12 de agosto. Ao contrário do esperado, apenas dois navios guardavam o porto, o Noort-Holland e o Ouden Eendracht, que fugiram para alto-mar. Dois pescadores negros capturados no porto contaram que uma tropa comandada pelo holandês Symon Pieterszoon estava com os jagas combatendo os portugueses em Maçangano. Melhor para Salvador de Sá, que entrou em uma Luanda desguarnecida, com apenas 250 holandeses vigiando o Forte do Morro e o Forte da Guia.
Confiante, Salvador de Sá chegou botando banca. Enviou três emissários para negociar a rendição. Como os holandeses não hastearam a bandeira branca, o governador colocou seus 800 soldados – e mais 200 marinheiros para fazer número – em fila na praia. Os inimigos chamaram os brasileiros para a briga, disparando tiros de canhão. Salvador de Sá e sua tropa, então, se refugiaram na entrada da cidade. E fizeram uma missa campal. No alvorecer do dia 16, Salvador de Sá ordenou um avanço contra o Forte do Morro. Os canhões usados eram de pequeno calibre e não causaram grandes danos, apesar do forte do Morro ser de terra batida. Os holandeses ofereceram fraca resistência, aguardando os reforços de Pieterszoon.
Na madrugada do dia 17, Salvador de Sá iniciou mais uma batalha. Enquanto os navios faziam manobras para fingir um ataque por mar, três colunas de soldados subiram em direção aos fortes do Morro e da Guia. Segundo relatos dos padres Antônio do Couto e Simão de Vasconcellos, o avanço das colunas era para ser simultâneo, o que não ocorreu. Uma coluna, por percorrer um caminho menor, chegou primeiro. Já os holandeses concentraram-se em ataques independentes e sucessivos. Espertos, eles lançavam primeiro foguetes e tochas para visualizar os invasores e, depois, investiam com mosquete e canhões. Quando o sol raiou, 150 dos 400 brasileiros que participaram da empreitada estavam mortos. Do lado holandês, apenas três mortos e oito feridos. Os holandeses, no entanto, tiveram um grave prejuízo. Perderam canhões, destruídos pela artilharia brasileira, e carretas que possibilitavam o transporte das pesadas armas de um lado para o outro.
Para espanto dos brasileiros, não houve batalha final. Abalados com a perda das armas, os capitães holandeses Cornelis Ouman e Adriaen Lens pediram paz. Na negociação, exigiram só uma rendição digna. Ficou acertado que deixariam Luanda e os postos avançados de Cuanza e Benguela levando na bagagem os escravos de propriedade da Companhia Holandesa. Quando Pieterszoon retornou à capital, não gostou do que viu. Mas fingiu aceitar os termos dos brasileiros. Foi embora deixando os jagas armados até os dentes para oferecer resistência aos colonizadores. Consolidada a vitória em Luanda, a tropa partiu para a conquista dos rincões angolanos. Os líderes eram três jesuítas: Antônio do Couto, Gonçalo João e Felipe Franco. Os religiosos convenceram alguns sobas (chefes) a ajudarem na travessia do país em direção a Maçangano, onde espantaram os jagas e os nativos do rei do Congo, que sitiavam os portugueses. Daí para frente, os brasileiros venceram todas as resistências.
A vitória foi comemorada em grande estilo. Salvador de Sá assumiu o governo da Angola e rebatizou o Forte do Morro de Forte de São Miguel, em homenagem ao patrono da expedição brasileira. Já a cidade de São Paulo de Luanda virou São Paulo da Assunção, em honra a Nossa Senhora da Assunção. E os tumbeiros (navios negreiros) embarcaram em direção ao Brasil com sete mil escravos apinhados nos porões. Estava restabelecido assim o tráfico de escravos. O reinado africano de Salvador de Sá acabou em 1652. Depois dele, o Brasil voltou a enviar tropas a Luanda pelo menos em seis ocasiões, principalmente nos governos de João Fernandes Vieira e André Vidal Negreiros, que atuaram ferozmente na captura de mão- de-obra. A última expedição brasileira à Angola foi em 1671 – 200 mulatos nordestinos participaram da batalha conhecida como Pungo Adungo. Quando saiu de vez do território angolano, o Brasil deixou muito bem estabelecido por lá um forte comércio de fumo e cachaça, que conquistou os traficantes de escravos até a sua proibição.
Protagonistas
Em terras angolanas, eles lideraram a briga pela posse dos negros
Perna-de-Pau
Cornelis Pieter Jols, conhecido como Perna-de-Pau, comandou a frota de 19 navios de guerra da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que invadiu Luanda em 1641. Além de dois mil soldados e 900 marinheiros, ele contou com 200 índios potiguares, embarcados em Recife. Para afugentar o governador angolano Pedro César de Menezes, Perna-de-Pau teve sorte. No caminho, aprisionou um capitão espanhol inimigo dos portugueses que indicou uma passagem no porto, livre do alcance dos canhões.
Rainha Jinga
Soberana do reino de Matamba, no leste de Angola, Jinga comandava uma horda de guerreiros canibais, chamados jagas, habilidosos na luta com machadinhas. Teve vida longa, de 1581 a 1663. A rainha era conhecida pela luxúria e perversidade. Possuía um harém de homens, dispostos a morrer por ela. Seus súditos, os jagas, viviam do roubo, vitimando diversas tribos. Quase no fim de sua vida, Jinga acabou convertida ao catolicismo pelo frei napolitano Antônio da Gaeta, capuchinho de São Salvador do Congo.
Salvador de Sá
Governador do Rio de Janeiro em diferentes períodos, Salvador Correia de Sá e Benevides foi o principal responsável pela retomada de Luanda, em 1648. Ele conseguiu apoio do rei D. João IV para dar o troco nas escaramuças produzidas pelos holandeses nas colônias do Atlântico Sul. Na África ganhou o nome de Nfumu-Etú-Lálânâ – Nosso Senhor Salvador – e foi o pior inimigo da rainha Jinga. Tomou dela muitos escravos sem nunca devolver a princesa dos jagas, Cambo, mantida como refém.
Kimpako
D. Garcia Afonso II – ou Kimpako na língua bacongo – foi o rei do Congo do ano de 1641 a 1663. Até 1648, ele manteve forte aliança com os holandeses, que colaboravam na sua luta contra um de seus vassalos e pior inimigo, o Conde de Soyo. Convertido ao cristianismo, o soberano congolês era católico fervoroso e abrigava em sua capital, São Salvador do Congo, frades capuchinhos contrários à escravidão. Kimpako negociou a paz com o novo governador de Angola, Salvador de Sá, após a expulsão dos holandeses de Luanda, mas só foi perdoado pelo rei de Portugal, D. João IV, depois de apelar para a intervenção do papa.
João Fernandes Vieira
Grande proprietário de engenhos de cana-de-açúcar na Paraíba e comandante da resistência aos holandeses na Insurreição Pernambucana, ele governou Angola entre 1651 e 1658. Vieira iniciou a série de expedições de mulatos nordestinos que espalharam o terror na África Central, queimando plantações dos nativos e escravizando angolanos e congoleses, inclusive de tribos aliadas dos portugueses. Acabou excomungado pelos jesuítas por denunciar a imensa quantidade de escravos que a Igreja mantinha em cativeiro.
André Vidal de Negreiros
Herói da Insurreição Pernambucana, a guerra contra a ocupação holandesa no Brasil, ele ganhou como prêmio o governo de Angola. Ficou no poder entre 1661 e 1666 e comprou briga com o novo rei do Congo, D. Antônio Afonso, chamado na língua bacongo de Mani Mulaza. A rixa entre os dois aconteceu na Batalha de Ambuíla (1665), quando os mulatos de Negreiros resistiram com espingardas e debaixo de chuva a milhares de arqueiros de Mani Mulaza. Mesmo com muitas glórias, Negreiros foi afastado do governo de Angola justamente por romper a paz com o Congo, conquistada logo após a retomada de Luanda.
Tempos bárbaros
Negros eram trocados por fumo e cachaça
Para conseguir escravos, os exploradores luso-brasileiros não mediam esforços. Valia tudo, desde a guerra de captura até o pagamento de tributos. Um dos jeitos mais comuns para amealhar a valiosa mão-de-obra era trocar mercadorias de origem portuguesa (vinho, pólvora e sal-gema) ou brasileira (fumo, cachaça e farinha de mandioca) por negros.
Nos tempos de paz, os agenciadores de escravos, os pumbeiros, vasculhavam o sertão angolano comprando os prisioneiros de tribos rivais. Nas idas e vindas ao interior, levavam 150 escravos para carregar as mercadorias usadas como pagamento. Demoravam cerca de um ou dois anos nas jornadas e voltavam com filas de 500 a 600 “peças”. Já nas guerras de captura, os capitães partiam acompanhados por centenas de soldados europeus, mulatos brasileiros ou mesmo angolanos. Enfrentavam as tribos e escravizavam os homens capturados. Em Luanda, os cativos ficavam em grandes barracões, esperando o embarque. Quando os navios demoravam para transportar a “carga”, os escravos acabavam aproveitados na plantação e cultivo da mandioca local.
Os jesuítas, que possuíam numerosos escravos em Luanda, tinham um importante papel durante essa estadia, catequizando as almas. Antes de embarcar, todos os escravos eram batizados com nomes bíblicos, recebendo a nova alcunha por escrito em um papel. Eram orientados a esquecer os costumes de sua terra e a serem felizes na nova fé.
Aventuras na História
Aníbal e seu exército - O pesadelo de Roma
Uma inesquecível derrota ensinou aos romanos que a inteligência é uma arma quente contra a força bruta. Uma extraordinária vitória mostrou aos cartagineses que humilhar o grande pode custar caro em longo prazo

O grande estrategista: triunfo sobre três
legiões e, mais tarde, sobre um exército inteiro,
escultura, Sebastien Slodtz, 1704, Louvre.
Verão de 216 a.C. Havia quase dois anos, Roma e Cartago se enfrentavam na região da bacia mediterrânea ocidental. O exército de Aníbal, um dos maiores estrategistas militares da história, saiu da Península Ibérica, passou pelos Pirineus e pelos Alpes e acabou na planície do Pó, onde triunfou sobre três legiões que Roma enviara para derrotá-lo. As batalhas ficaram conhecidas como Ticino (novembro de 218 a.C), Trebia (dezembro de 218 a.C) e Trasímeno (junho de 217 a.C).
Depois de perder 20 mil homens na batalha de Trasímeno, os romanos decidiram protelar. A ordem era assediar o exército de Aníbal para enfraquecê-lo aos poucos, mas sem lutar. Em resposta a essa estratégia, Aníbal multiplicou os ataques de surpresa e as pilhagens, espalhando fogo e devastação por toda a Península Itálica.
Daí em diante, os romanos não puderam mais ficar inativos, num jogo de suposta inteligência que fracassou diante da força. O inimigo desafiou sua potência, até mesmo diante de aliados. Por isso o Senado de Roma decidiu enviar seus exércitos ao encontro de Aníbal. O general cartaginês queria batalha? Pois teria, mas com uma amplidão que nem imaginava! Assim pensavam os então perdedores, ávidos por uma vitória que os redimisse da humilhação recente.
Assim, na manhã de 2 de agosto de 216 a.C, oito legiões e auxiliares, num total de quase 100 mil soldados, acampou na planície de Cannes, na costa adriática, sob o promontório de Gargano. Foi o maior exército reunido por Roma até aquele momento.
Na véspera, Aníbal havia oferecido combate. Chegou a alinhar suas tropas perto do rio Aufides (atual Ofanto). O cônsul Paulo Emílio, que comandava os romanos naquele dia, preferiu deixar suas legiões entrincheiradas nos seus campos. Já o cônsul Varrão estava decidido a não perder essa oportunidade. Os cartagineses queriam combater na margem esquerda?, indagou. Pois os romanos iriam esperá-los na margem direita! A idéia era não dar ao adversário a escolha do local do confronto.
Era exatamente o que esperava Aníbal, que sabia, por informantes, da ordem de lutar dada aos romanos. A margem direita significava terreno ainda mais favorável às evoluções de sua cavalaria, que constituía a grande vantagem do exército cartaginês.
É verdade que a infantaria púnica, com 40 mil homens, tinha bem menos da metade do tamanho da infantaria dos romanos. Essa superioridade numérica era a chave do moral dos senadores, quando decidiram reagir a Aníbal: estavam certos de esmagar rapidamente o inimigo, com sua massa inumerável e seus infantes.
Na aurora daquele dia, as trombetas ressoaram no campo romano. Sem tardar, soldado por soldado, legião por legião se alocaram na margem direita do Aufides. Algumas centenas de metros à frente, um grupo de cavaleiros inimigos subiu a galope uma pequena colina perto da cidade de Cannes. Era Aníbal e seus oficiais, que foram observar o inimigo. Sem ouvir as ordens dadas pelos líderes, eles só viram o formigueiro humano, que tomou aos poucos a forma de uma fita de quase três quilômetros.
Em torno de Aníbal, a tensão aumentou. Por mais experientes que fossem os chefes cartagineses, nenhum jamais havia visto tamanho exército. Curiosamente, porém, o general pareceu mais relaxado. Ele queria aquela batalha. Tinha então a convicção de ter o adversário à sua mercê na planície de Cannes, que percorreu em todos os sentidos durante um mês, para conhecê-la no detalhe. E ele ordenou o desdobramento de seu exército.
OTIMISMO

Os longos escudos romanos, marca registrada de um exército que se julgava
invencível Detalhe do monumento Ahenobarbus, Museu do Louvre, Paris.
Entre os romanos, as colunas vinham próximas umas das outras, para aumentar-lhes, na hora certa, a força do impacto. Havia uma febre otimista entre os homens – jovens e velhos. Roma inteira estava ali, todo o Lácio também e todas as cidades aliadas. De uma fileira à outra, os do bairro do Esquillino e os que moravam perto do mercado de bois, os nativos de Tibur e os de Prenestino, todos se interpelavam e se encorajavam com uma alegria barulhenta. Ali, pensavam eles, não mais seria possível uma emboscada, não haveria mais uma neblina como a de Trasímeno!
Os dois exércitos ficaram frente a frente na planície de Cannes. À esquerda, os romanos colocaram sua cavalaria, comandada pelo próprio Paulo Emílio. No centro, a imensa massa da infantaria legionária vinha comandada pelos cônsules Minucius Servilius. O cônsul Varrão liderou a cavalaria da ala direita.
O exército púnico estava a aproximadamente mil passos. À esquerda, gauleses e espanhóis obedeciam a Asdrúbal, irmão de Aníbal. No centro, junto com o mítico general, estavam 22 mil infantes espanhóis, acompanhados de celtas e ladeados por dois corpos da reserva, cada um com 5 mil líbios, chamados africanos. À esquerda, Hannon, sobrinho de Aníbal, liderava a cavalaria da cidade de Numídia.
Assim, dos dois lados, os generais se colocaram onde seus dispositivos pareciam mais fracos: Varrão e Paulo Emílio com sua relativamente pequena cavalaria; Aníbal no meio de seus infantes, marchando em número menor que o exibido pelo inimigo.

A batalha final: um feito cartaginês contado
e retratado século após século Escudo do
rei Henrique II da França, estampado com
cena da batalha de Cannes; aço banhado de
prata e ouro, relevo atribuído ao ferreiro Etienne
Delaune, Metropolitan Museum, Nova York.
Começou, então, a batalha. Os atiradores formaram fileiras: arqueiros e lançadores de dardos surgiam e voltavam correndo, fazendo chover projéteis nas fileiras adversárias. Os cavaleiros entraram na luta. Os esquadrões de Asdrúbal atacaram os homens de Paulo Emílio, jogando-os no chão. No centro, à maneira de duas muralhas de ferro, as infantarias pesadas começaram a se dirigir uma contra a outra e, no confronto, tomou conta do local o barulho ensurdecedor de espadas batendo em escudos.
A carnificina foi terrível, mas o moral dos romanos se manteve, e a imensa infantaria aumentou a violência diante da expectativa de uma vitória próxima. Subitamente, o front cartaginês tomou a forma de uma grande cavidade, um arco de círculo, para o qual convergiram, ébrios de furor, todos os romanos. Esgotados pelos combates que tinham acabado de travar, os veteranos procuravam, com os olhos, as unidades que revezariam com eles. O que viram mudou o desfecho desse combate, que parecia tão certo minutos antes.
Colunas de soldados, munidos de longos escudos romanos, passaram a girar em torno dos legionários. Cego pelo suor e pelo vento alto, o tribuno Gnacus Lentulus compreendeu: esses soldados, cuja tez morena ele distinguiu sob os capacetes, não eram romanos, mas sim os africanos de Aníbal, equipados com as armas dos mortos de Trasímeno!
Era tarde demais para reagir. Colunas líbias bloquearam as saídas, e os legionários ficaram presos na armadilha, vendo o inimigo se reorganizar velozmente e partir para a ofensiva. A saída da emboscada seria providenciar uma formação em quadrado, mas os cavaleiros de Asdrúbal entraram em cena e impossibilitaram a manobra.
O exército dos cônsules ficou totalmente cercado, em desespero. Muitos tentaram lutar, mas caíram um a um. Alguns se mataram. Outros foram tomados pela loucura. A tropa de elite sucumbiu, Paulo Emílio morreu, e o massacre foi total.
Ao fim de nove horas de combates, Varrão levou a Roma a notícia de sua mais sangrenta derrota: morreram na planície de Cannes três cônsules, 80 senadores, mais de 30 oficiais superiores e nada menos que 60 mil soldados. Pelo menos 10 mil homens foram feitos prisioneiros.
A batalha, para sempre foi vista como caso exemplar da vitória da inteligência sobre a força bruta. Os romanos jamais a esqueceram e tiraram dela suas lições. Mais tarde, também os cartagineses aprenderiam que certas vitórias resultam em alto preço a pagar em longo prazo.
Aníbal não sabia, mas seu invejável desempenho como general tornou impossível qualquer acordo futuro com Roma. Muitos anos depois, em 146 a.C, a destruição final e total de Cartago foi a conseqüência do que aconteceu na batalha de Cannes.
UM GENERAL ANTIIMPERIALISTA
Pertencente à poderosa família dos Barcides, Aníbal era filho de Amílcar, conquistador de boa parte da Península Ibérica. Desde a infância, foi animado por uma vontade indomável de dar a Cartago uma revanche, por causa da derrota na primeira guerra púnica (254-241 a.C).
Militarmente, Aníbal foi formado pelos métodos helenísticos, introduzidos em Cartago em 240 a.C., e sua estratégia é semelhante à de Alexandre, o Grande: superar a inferioridade numérica em relação ao adversário, graças a uma guerra clara, com foco no centro do poder inimigo. Aníbal foi também inovador: vez por outra, criava unidades pequenas e móveis em seu exército, capazes de manobras complexas no campo de batalha.
Segundo Mhamed Hassine Fantar, professor universitário de história antiga e arqueologia na Tunísia, é provável que Aníbal tenha sentido o perigo de uma Roma que era a única potência do Mediterrâneo em meados do século III a.C. Nessa hipótese, teria se levantado contra o imperialismo, com o objetivo de obter uma política de equilíbrio regional que incluísse, pacificamente, cartagineses, romanos e gregos. – A. G.

Verão de 216 a.C. Havia quase dois anos, Roma e Cartago se enfrentavam na região da bacia mediterrânea ocidental. O exército de Aníbal, um dos maiores estrategistas militares da história, saiu da Península Ibérica, passou pelos Pirineus e pelos Alpes e acabou na planície do Pó, onde triunfou sobre três legiões que Roma enviara para derrotá-lo. As batalhas ficaram conhecidas como Ticino (novembro de 218 a.C), Trebia (dezembro de 218 a.C) e Trasímeno (junho de 217 a.C).
Depois de perder 20 mil homens na batalha de Trasímeno, os romanos decidiram protelar. A ordem era assediar o exército de Aníbal para enfraquecê-lo aos poucos, mas sem lutar. Em resposta a essa estratégia, Aníbal multiplicou os ataques de surpresa e as pilhagens, espalhando fogo e devastação por toda a Península Itálica.
Daí em diante, os romanos não puderam mais ficar inativos, num jogo de suposta inteligência que fracassou diante da força. O inimigo desafiou sua potência, até mesmo diante de aliados. Por isso o Senado de Roma decidiu enviar seus exércitos ao encontro de Aníbal. O general cartaginês queria batalha? Pois teria, mas com uma amplidão que nem imaginava! Assim pensavam os então perdedores, ávidos por uma vitória que os redimisse da humilhação recente.
Assim, na manhã de 2 de agosto de 216 a.C, oito legiões e auxiliares, num total de quase 100 mil soldados, acampou na planície de Cannes, na costa adriática, sob o promontório de Gargano. Foi o maior exército reunido por Roma até aquele momento.
Na véspera, Aníbal havia oferecido combate. Chegou a alinhar suas tropas perto do rio Aufides (atual Ofanto). O cônsul Paulo Emílio, que comandava os romanos naquele dia, preferiu deixar suas legiões entrincheiradas nos seus campos. Já o cônsul Varrão estava decidido a não perder essa oportunidade. Os cartagineses queriam combater na margem esquerda?, indagou. Pois os romanos iriam esperá-los na margem direita! A idéia era não dar ao adversário a escolha do local do confronto.
Era exatamente o que esperava Aníbal, que sabia, por informantes, da ordem de lutar dada aos romanos. A margem direita significava terreno ainda mais favorável às evoluções de sua cavalaria, que constituía a grande vantagem do exército cartaginês.
É verdade que a infantaria púnica, com 40 mil homens, tinha bem menos da metade do tamanho da infantaria dos romanos. Essa superioridade numérica era a chave do moral dos senadores, quando decidiram reagir a Aníbal: estavam certos de esmagar rapidamente o inimigo, com sua massa inumerável e seus infantes.
Na aurora daquele dia, as trombetas ressoaram no campo romano. Sem tardar, soldado por soldado, legião por legião se alocaram na margem direita do Aufides. Algumas centenas de metros à frente, um grupo de cavaleiros inimigos subiu a galope uma pequena colina perto da cidade de Cannes. Era Aníbal e seus oficiais, que foram observar o inimigo. Sem ouvir as ordens dadas pelos líderes, eles só viram o formigueiro humano, que tomou aos poucos a forma de uma fita de quase três quilômetros.
Em torno de Aníbal, a tensão aumentou. Por mais experientes que fossem os chefes cartagineses, nenhum jamais havia visto tamanho exército. Curiosamente, porém, o general pareceu mais relaxado. Ele queria aquela batalha. Tinha então a convicção de ter o adversário à sua mercê na planície de Cannes, que percorreu em todos os sentidos durante um mês, para conhecê-la no detalhe. E ele ordenou o desdobramento de seu exército.
OTIMISMO

Entre os romanos, as colunas vinham próximas umas das outras, para aumentar-lhes, na hora certa, a força do impacto. Havia uma febre otimista entre os homens – jovens e velhos. Roma inteira estava ali, todo o Lácio também e todas as cidades aliadas. De uma fileira à outra, os do bairro do Esquillino e os que moravam perto do mercado de bois, os nativos de Tibur e os de Prenestino, todos se interpelavam e se encorajavam com uma alegria barulhenta. Ali, pensavam eles, não mais seria possível uma emboscada, não haveria mais uma neblina como a de Trasímeno!
Os dois exércitos ficaram frente a frente na planície de Cannes. À esquerda, os romanos colocaram sua cavalaria, comandada pelo próprio Paulo Emílio. No centro, a imensa massa da infantaria legionária vinha comandada pelos cônsules Minucius Servilius. O cônsul Varrão liderou a cavalaria da ala direita.
O exército púnico estava a aproximadamente mil passos. À esquerda, gauleses e espanhóis obedeciam a Asdrúbal, irmão de Aníbal. No centro, junto com o mítico general, estavam 22 mil infantes espanhóis, acompanhados de celtas e ladeados por dois corpos da reserva, cada um com 5 mil líbios, chamados africanos. À esquerda, Hannon, sobrinho de Aníbal, liderava a cavalaria da cidade de Numídia.
Assim, dos dois lados, os generais se colocaram onde seus dispositivos pareciam mais fracos: Varrão e Paulo Emílio com sua relativamente pequena cavalaria; Aníbal no meio de seus infantes, marchando em número menor que o exibido pelo inimigo.

Começou, então, a batalha. Os atiradores formaram fileiras: arqueiros e lançadores de dardos surgiam e voltavam correndo, fazendo chover projéteis nas fileiras adversárias. Os cavaleiros entraram na luta. Os esquadrões de Asdrúbal atacaram os homens de Paulo Emílio, jogando-os no chão. No centro, à maneira de duas muralhas de ferro, as infantarias pesadas começaram a se dirigir uma contra a outra e, no confronto, tomou conta do local o barulho ensurdecedor de espadas batendo em escudos.
A carnificina foi terrível, mas o moral dos romanos se manteve, e a imensa infantaria aumentou a violência diante da expectativa de uma vitória próxima. Subitamente, o front cartaginês tomou a forma de uma grande cavidade, um arco de círculo, para o qual convergiram, ébrios de furor, todos os romanos. Esgotados pelos combates que tinham acabado de travar, os veteranos procuravam, com os olhos, as unidades que revezariam com eles. O que viram mudou o desfecho desse combate, que parecia tão certo minutos antes.
Colunas de soldados, munidos de longos escudos romanos, passaram a girar em torno dos legionários. Cego pelo suor e pelo vento alto, o tribuno Gnacus Lentulus compreendeu: esses soldados, cuja tez morena ele distinguiu sob os capacetes, não eram romanos, mas sim os africanos de Aníbal, equipados com as armas dos mortos de Trasímeno!
Era tarde demais para reagir. Colunas líbias bloquearam as saídas, e os legionários ficaram presos na armadilha, vendo o inimigo se reorganizar velozmente e partir para a ofensiva. A saída da emboscada seria providenciar uma formação em quadrado, mas os cavaleiros de Asdrúbal entraram em cena e impossibilitaram a manobra.
O exército dos cônsules ficou totalmente cercado, em desespero. Muitos tentaram lutar, mas caíram um a um. Alguns se mataram. Outros foram tomados pela loucura. A tropa de elite sucumbiu, Paulo Emílio morreu, e o massacre foi total.
Ao fim de nove horas de combates, Varrão levou a Roma a notícia de sua mais sangrenta derrota: morreram na planície de Cannes três cônsules, 80 senadores, mais de 30 oficiais superiores e nada menos que 60 mil soldados. Pelo menos 10 mil homens foram feitos prisioneiros.
A batalha, para sempre foi vista como caso exemplar da vitória da inteligência sobre a força bruta. Os romanos jamais a esqueceram e tiraram dela suas lições. Mais tarde, também os cartagineses aprenderiam que certas vitórias resultam em alto preço a pagar em longo prazo.
Aníbal não sabia, mas seu invejável desempenho como general tornou impossível qualquer acordo futuro com Roma. Muitos anos depois, em 146 a.C, a destruição final e total de Cartago foi a conseqüência do que aconteceu na batalha de Cannes.
UM GENERAL ANTIIMPERIALISTA
Pertencente à poderosa família dos Barcides, Aníbal era filho de Amílcar, conquistador de boa parte da Península Ibérica. Desde a infância, foi animado por uma vontade indomável de dar a Cartago uma revanche, por causa da derrota na primeira guerra púnica (254-241 a.C).
Militarmente, Aníbal foi formado pelos métodos helenísticos, introduzidos em Cartago em 240 a.C., e sua estratégia é semelhante à de Alexandre, o Grande: superar a inferioridade numérica em relação ao adversário, graças a uma guerra clara, com foco no centro do poder inimigo. Aníbal foi também inovador: vez por outra, criava unidades pequenas e móveis em seu exército, capazes de manobras complexas no campo de batalha.
Segundo Mhamed Hassine Fantar, professor universitário de história antiga e arqueologia na Tunísia, é provável que Aníbal tenha sentido o perigo de uma Roma que era a única potência do Mediterrâneo em meados do século III a.C. Nessa hipótese, teria se levantado contra o imperialismo, com o objetivo de obter uma política de equilíbrio regional que incluísse, pacificamente, cartagineses, romanos e gregos. – A. G.
Nenhum comentário:
Postar um comentário